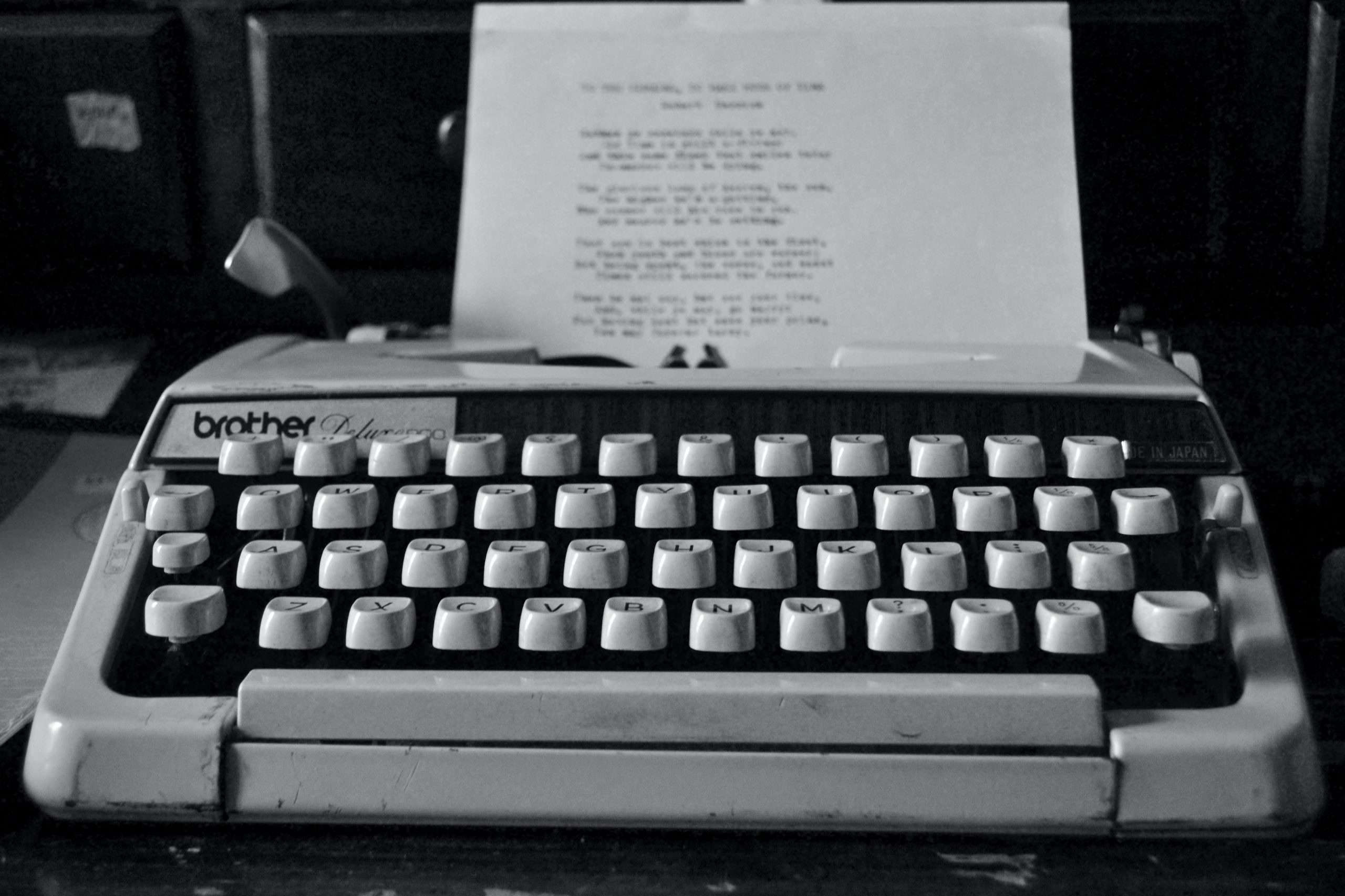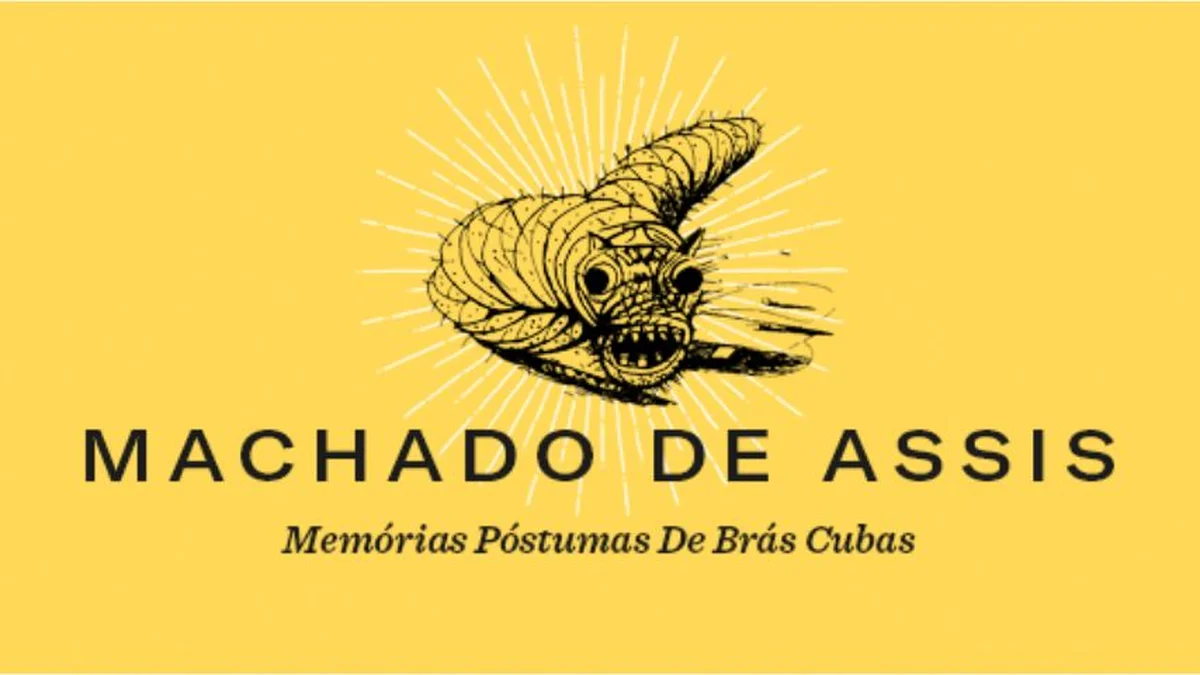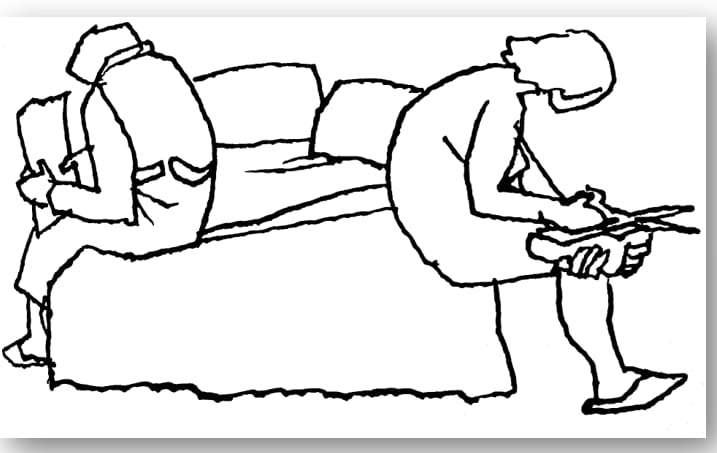A obra de José de Alencar, em seu conjunto, representa um marco na literatura brasileira, pela tentativa de autonomia cultural, fato resultante do momento político, já que o Romantismo começou enfatizando o nacionalismo, no intuito de levar a independência política para a esfera cultural. O objetivo do autor, como ele mesmo atesta, nas cartas que escreveu aos seus contemporâneos, era, por meio da lenda de surgimento do Ceará, resgatar a origem de nossa sociedade. Para isso, a narrativa traz à tona o início do período colonial e a duplicidade que o caracterizava: a primitividade do povo indígena e o contato com o “mundo civilizado” dos colonizadores. Por isso, Alencar promoveu, em romances como O guarani e Iracema, o consórcio entre o índio e o branco, que simbolizam, respectivamente, o elemento autóctone e o estrangeiro. Essas obras, de acordo com Zilá Bernd, exemplificam uma visão “sacralizante”. Tal nomenclatura, tomada de empréstimo de Glissant, serviu para qualificar os textos produzidos durante o Romantismo, porque esses trabalharam
[…] somente no sentido da recuperação e da solidificação de seus mitos. […]. Por outro lado, o Modernismo concebeu a identidade nacional no sentido se sua dessacralização, o que corresponde […] a um pensamento politizado, equivalendo a uma abertura contínua para o DIVERSO, território no qual uma cultura pode estabelecer relações com as outras. (BERND, 1992, p. 18, grifo no original)
Durante o Romantismo, a recepção de Iracema foi positiva, sobretudo por parte da crítica, com elogios até mesmo de Machado de Assis:
Estudando profundamente a língua e os costumes dos selvagens, obrigou-se o autor a entrar mais ao fundo da poesia americana; entendia ele, e entendia bem, que a poesia americana não estava completamente achada; que era preciso prevenir-se contra um anacronismo moral, que consiste em dar ideias modernas e civilizadas aos filhos incultos da floresta. […]. A conclusão a tirar daqui é que o autor houve-se nisto com uma ciência e consciência, para as quais todos os louvores são poucos. (ASSIS, 1970, p. 75)
De fato, a linguagem é uma característica exponencial no romance de Alencar. Resgatou-se, na obra, o tupi, como modo de colocar o leitor em contato com suas origens, a fim de tornar o povo mais consciente de sua identidade cultural. Segundo Alencar, em carta a Domingos Jaguaribe, incluída na primeira edição do romance: “O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos do seu pensamento, as tendências do seu espírito, e até as menores particularidades da sua vida” (ALENCAR, 1941, p. 209). Entretanto, na mesma carta, Alencar, dissertando sobre o modo ideal de incluir a língua autóctone na literatura, faz uma lista dos erros comuns e que devem ser evitados pelos escritores, sem se dar conta de que acabou por cometer os mesmos equívocos: “[…] pecavam pelo abuso dos termos indígenas acumulados uns sobre os outros, o que não só quebrava a harmonia da língua portuguesa, como perturbava a inteligência do texto” (ALENCAR, 1941, p. 209). Para fazer uso da língua indígena, o autor escolhe a prosa como modo de expressão, já que sua continuidade e fluidez, segundo ele, darão maior harmonia ao texto, preservando-o de artificialismos. Mesmo assim, estão presentes, em sua escrita, vários recursos poéticos, como rimas e, sobretudo, figuras de linguagem, com destaque às comparações, reconhecidamente excessivas, até por parte do próprio Alencar. Isso, somado aos elementos que integram sua crítica em relação às obras indianistas escritas, até o momento em que ele começa a esboçar Iracema, é o responsável por um dos “senões” do livro.
O uso de vocábulos estranhos à língua portuguesa causa interrupções frequentes na leitura, o que compromete muito a fluidez pretendida pelo uso da prosa. Fora isso, pelo uso das comparações, a identificação recorrente dos personagens com os elementos da natureza produz uma imagem artificial e ideal do indígena, construindo-se uma história e inventando-se um herói que não encontraram correspondentes na realidade do século XIX. Outro problema da linguagem adotada refere-se ao conceito bakhtiniano de “plurilinguismo” no romance (BAKHTIN, 2014, p. 110). De acordo com Bakhtin, deve haver um perfeito encaixe entre a fala e o perfil do personagem. Analisando a obra de Alencar sob esse aspecto, depreende-se que os recursos poéticos, combinados com a prosa, causam nova ruptura na fluidez e na continuidade da história, promovendo a artificialidade em vez da naturalidade:
Escrevendo bem ao gosto do século XIX, Alencar busca dar clima indianista ao seu romance através da inclusão de termos indígenas esparsos, devidamente esclarecidos pelos próprios personagens que os empregam, ou por notas do autor, ao fim da narrativa e, principalmente, através de uma linguagem extremamente artificial, em que todos (inclusive o narrador) falam através de metáforas e comparações, de modo geral inspirados em signos da natureza. (OLIVEIRA, 1994, p. 330)
Coerente com a visão romântica, mas contrária à ideologia modernista, a crítica de Guilherme de Almeida, que introduz o romance de Alencar (uma edição de 1941, ilustrada por Anita Malfatti), é responsável por observações que acentuam o teor nacionalista e mais favorável ao processo de colonização, como deixam claro os trechos abaixo transcritos:
Orgulhosos da sua mestiçagem mais ou menos consumada e da sua independência afirmada, o brasileiro pôs-se a escrever […]. (ALENCAR, 1941, p. 7)
Desde o seu próprio nome — anagrama de “América” — “Iracema” é, de fato, a América toda: a índia, filha e dona de verdes e grandes e livres e boas terras, nelas solta, que “guarda o segredo da jurema e o mistério do sonho”, e que o guerreiro branco vem descobrir e amar e possuir e fecundar… (ALENCAR, 1941, p. 12, grifo no original)
Mais tarde, a crítica de Almeida servirá de base para o processo de “remodelação da inteligência nacional” (BERRIEL, 1990, p. 22), liderado por Mário de Andrade. O primeiro fragmento exalta a mestiçagem, mas, de acordo com a perspectiva dos modernistas, o negro, um dos elementos de fundamental importância para a formação do povo brasileiro foi excluído. Embora o negro não seja o “dono da terra”, nem represente a força hegemônica do europeu, é peça-chave para a formação étnica, biológica e econômica do brasileiro. Entretanto, há que se considerar que havia uma razão para que Alencar não tenha dado destaque ao negro, como explica Lilia Schwarcz:
Tratava-se, dessa forma, de mais uma vez reconhecer na miscigenação uma certa singularidade, mas uma singularidade negativa, uma marca a comprometer o futuro, um sinal máximo de nossa degeneração. O Brasil era não só o local da convivência social harmônica entre brancos, negros e índios, como também o território da miscigenação biológica, com todas suas implicações. A mestiçagem surgia nesse contexto, portanto, como uma grande incógnita, uma ambiguidade instaurada bem no meio do mito otimista das três raças. Era a aura romântica dessa fábula que surgia arranhada, quando os índios e, sobretudo, os negros começavam a ser considerados como incapazes de chegar à civilização. (SCHWARCZ, 2016)
Sobre isso, também escreveu Antonio Candido, em Literatura e sociedade: “No Brasil, havia um certo constrangimento em relação a tudo que era popular — negros, mestiços, índios, cultos de raízes africanas, etc. Por uma espécie de ‘vergonha’, apelava-se a uma idealização” (CANDIDO, 2000, p. 82, grifo no original). Enfatizando esse mesmo aspecto, Albert Memmi deixa claro que esse complexo de inferioridade é desencadeado pela superioridade do colonizador, que motiva, simultaneamente, a admiração e a autonegação por parte do colonizado: “O colonizado não procura apenas enriquecer-se com as virtudes do colonizador. Em nome daquilo em que deseja se transformar, obstina-se em empobrecer-se, em arrancar-se de si mesmo.” (MEMMI, 2007, p. 163). Essa passagem serve para explicar, ao mesmo tempo, a invenção do indígena, pela idealização, e a exclusão do negro, que perduraram, na literatura, até as primeiras décadas do século XX. Apenas depois do Modernismo, quando Mário de Andrade resgatou e revisou o projeto americano de Alencar, incluindo, humorística e parodisticamente, o negro como uma das três raças que deram origem ao brasileiro é que o negro, sua língua e seus costumes, há muito tempo presentes em nossa cultura, começou a ser aceito, gozando de maior valorização e visibilidade.
Quanto à segunda parte transcrita da crítica de Guilherme de Almeida à Iracema, pode-se dizer que imperaram a parcialidade e o Romantismo, pois sua afirmação apenas reforça a submissão do índio em relação ao branco, enfatizando, consequentemente, a supremacia europeia, o que demonstrava extrema conformidade ao contexto romântico e de independência recente. Além disso, Iracema (cujo nome remete à América) alimenta o estereótipo do exotismo, principal responsável pelas representações que costumam ser feitas do Brasil, tanto pelos brasileiros quanto por estrangeiros.
Ana Madalena Fontoura de Oliveira, em seu artigo “Os filhos de Marte na América — ‘Iracema’ e ‘Martín Fierro’ enquanto romances-símbolos de seus países”, comentando o fato de Iracema representar a América e de sua união com o branco simbolizar o surgimento de “uma nova raça, uma nova cultura, não mais índia, porém não puramente branca, também metaforizada na narrativa em Moacir, luso-tabajara” (OLIVEIRA, 1994, p. 327), menciona o problema de o autor, brasileiro, suprimir o elemento autóctone em favor do europeu, fato que considera ser totalmente contrário à intenção de fazer a independência repercutir também culturalmente, na época em que o romance foi escrito. Em suma, é como se a autora considerasse Iracema antinacionalista, pela eliminação do elemento indígena, ao final da história. Porém, qualquer coisa diferente disso, na época em que a obra foi escrita, soaria como inverossímil. Uma exaltação exacerbada do indígena serviria para transformá-lo em herói nacional, mas não levaria em conta uma relação de causa e efeito bastante importante: por razões políticas e econômicas, que repercutem na esfera cultural, é fatal e certa a sobreposição do país de maior prestígio ou dominante em relação aos demais, inferiores a ele. Desse modo, tanto o equilíbrio como o desequilíbrio que exaltasse o indígena em detrimento do povo português, ambos utópicos, seriam impossíveis.
Essa submissão parece ser produto ou reflexo da visão das cartas e dos tratados dos viajantes, como Gândavo. Enquanto Pero Vaz de Caminha é considerado, por seus relatos, o mais humanista dos cronistas, por tentar sempre não julgar radicalmente a cultura indígena, já que essa lhe é totalmente estranha, Gândavo, parcial e tendenciosamente, descreve o indígena como verdadeiro selvagem, sem nenhuma qualidade, porque parece cobrar desse povo, estranho para ele, o conhecimento dos princípios inerentes à sua cultura.
Alencar, em O guarani, sua primeira obra indianista, perpetua a imagem do índio como selvagem, dono de espetacular força bruta, mas de pouca capacidade intelectual, quando, em uma das cenas, o narrador opõe o branco ao índio, caracterizando-os dessa forma: “Embora ignorante, filho das florestas, era um rei; tinha a realeza da força. Apenas concluiu, […] já não era mais do que um bárbaro em face de criaturas civilizadas, cuja superioridade de educação o seu instinto reconhecia” (ALENCAR, 1964, p. 99-100). Além dessa visão referente ao indígena, Bernd cita Caramuru, de Santa Rita Durão, obra em que se “nomeia a cartografia, a fauna e a flora americanas à exaustão” (BERND, 1992, p. 34), mas em que Paraguassu, que representa o povo indígena, submete-se ao branco, já que ela deixa sua tribo e parte com Diogo para a França, onde passa a se chamar Catarina, mudança que simboliza o abandono da origem e de sua identidade, ou, meramente, a submissão natural do mais fraco frente ao grupo dominante.
De acordo com Pedro Puntoni, os índios brasileiros eram divididos em três classes: tupi, tapuia e os índios do Maranhão. No entanto, constata-se que Alencar elegeu apenas os índios tupi para servirem de base à construção de seus personagens. Uma hipótese provável para essa opção é a atribuição de um espírito amistoso e pacífico a esse grupo. Esse recorte, porém, assumiu maior dimensão, passando a ser considerado um dos complicadores na execução do projeto americano:
Fazia parte desse “patriotismo caboclo”, como queria Varnhagen, a operação intelectual que identificava a gênese do “povo brasileiro” na ascendência tupi. Acompanhando a proposição originada da tese famosa do mesmo Martius, que tinha a história nacional como a da miscigenação das três raças (negros, brancos e indígenas) na constituição de um povo, o discurso romântico dos indianistas queria identificar nossa progênie mítica apenas nos selvagens tupi, legando ao tapuia, ou ao “índio bravo”, todo o ônus da crueldade e da incultura”. (PUNTONI, 2016, grifo no original)
Dessa forma, na perspectiva dos modernistas, como se não bastassem a exclusão do negro da gênese do povo brasileiro e a construção do indígena apenas com base no elemento tupi, o que evidencia total idealização, há o desnível entre o branco e o índio nos processos de desculturação e a culturação. Essa falha, percebida por vários críticos, é explicitada de modo preciso e sucinto também por Zilá Bernd, que julga o “processo desigual, pois se Martim adere a alguns costumes locais, são os seus valores — valores de uma cultura hegemônica — que acabam por se impor como os valores da nação brasileira” (BERND, 1992, p. 41). Isso explica o fato de, inusitadamente, o índio figurar na lista das vergonhas nacionais que Candido apresentou em Literatura e sociedade. Ao mesmo tempo em que se elege o tipo de índio mais afeito ao heroísmo e à boa educação, desconsidera-se a reação que até o índio tupi passou a apresentar, diante dos maus tratos que recebia dos portugueses.
Porém, não só Iracema, representada como “a virgem dos lábios de mel”, serve de exemplo a essa intensa idealização. Outro exemplo é Paraguassu, que se transforma, segundo Candido, em uma “princesa brasílica”, em uma tentativa clara de “redimir a mancha da mestiçagem” (CANDIDO, 2000, p. 87). A artificialidade das personagens indígenas de Alencar pode ter partido da intermediação entre valorização das características territoriais e assimilação de hábitos estrangeiros (no caso, europeus), esquecendo-se do fato de, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, as duas sociedades estarem culturalmente em pé de igualdade, se não se considerar que eram os indígenas os donos da terra. Apenas em um segundo momento, passada a novidade, estabelece-se claramente o domínio português, com o propósito de colonização, para exploração daquela terra.
Sobre a exclusão do negro, em um livro que pretendia resgatar a gênese da sociedade brasileira, Muniz Sodré formula outras hipóteses, além das mais conhecidas: “Pode-se considerar como razões prováveis a pele mais clara do silvícola, o longo capítulo da miscigenação entre tupis e portugueses, mas principalmente a romantização do índio pelos europeus” (SODRÉ, 1999, p. 79-80). Oliveira, que considera os índios alencarianos extremamente idealizados, chamando-os de índios “de alma branca” e de “bons selvagens rousseaunianos” (OLIVEIRA, 1994, p. 331), aponta como elemento mais inverossímil o fato de os indígenas aceitarem, sem qualquer questionamento, a superioridade do branco. Não que não tenha existido tal período de paz e entendimento entre índios e portugueses, mas, conforme Paulo Prado, esse foi apenas um dos períodos da relação entre os dois povos: “Era ainda o período idílico e heroico, em que o colono aqui chegava isolado no individualismo da época, e misturava-se com o indígena, de quem aprendia a língua e adotava os costumes” (PRADO, 1999, p. 71).
Mais tarde, porém, quando também chegaram franceses e holandeses, segundo Anchieta, a relação entre indígenas e portugueses se complicou. Anchieta menciona que os portugueses não tinham “índios amigos que os ajudassem porque os destruíram todos” (ANCHIETA, 2016). As “Informações” de Anchieta ainda vislumbram o ano de 1562, único em que os tupi revoltaram-se contra os portugueses, o que demonstra a convivência nem sempre pacífica. Indo além, o autor refere-se ao processo de domesticação, que gerou a paz, mas em troca de violência, crueldade e da reação natural dos indígenas contra os desmandos dos portugueses:
O que mais espanta aos índios e os faz fugir dos portugueses e, por consequência, das igrejas, são as tiranias que com eles usam obrigando-os a servir toda a sua vida como escravos, apartando mulheres de maridos, pais de filhos, ferrando-os, vendendo-os, etc. […]. (ANCHIETA, 2016)
Esses apontamentos de Anchieta vão ao encontro do que Alfredo Bosi menciona, quando analisa o mito sacrificial, referindo-se à relação entre índios e portugueses, posiciona-se desta forma, diante da obra de Alencar: “Essa conciliação, dada como espontânea por Alencar, viola abertamente a história da ocupação portuguesa no primeiro século (é só ler a crônica da maioria das capitanias para saber o que aconteceu), […]” (BOSI, 1992, p. 179). Leitores atentos da literatura colonial, tanto Paulo Prado como Alfredo Bosi apontam imprecisões históricas. Entretanto, não se pode esquecer de que se trata de textos bem distintos: de um lado as crônicas; de outro, o romance romântico que se tornou emblemático na tentativa de forjar uma identidade brasileira.