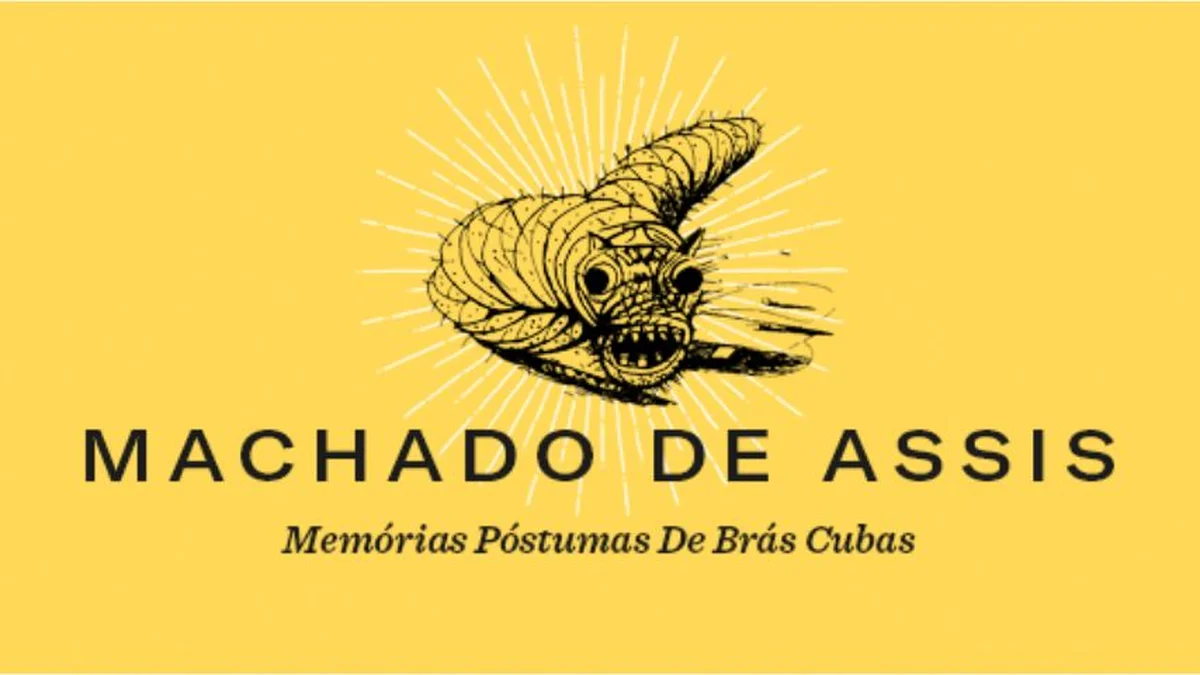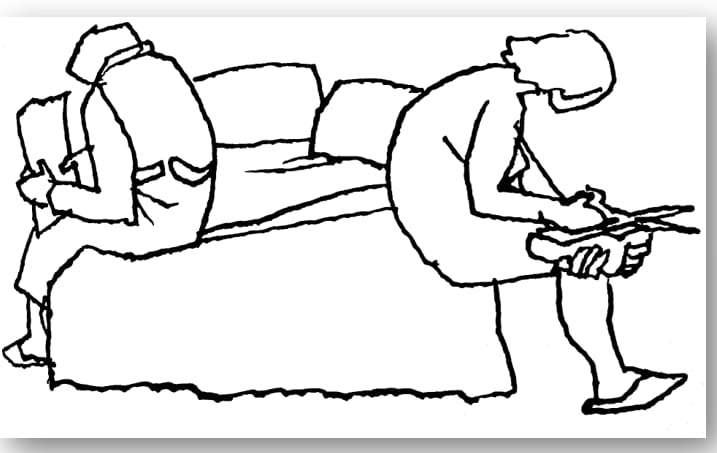Em A rosa púrpura do Cairo, a noção de autoria é relativizada logo no início do filme, com a imagem do título do filme, que o espectador julga ser uma criação de Woody Allen, em um cartaz, em um cinema de New Jersey, cenário da história. A coincidência de títulos passa, então, a servir de obstáculo para a apreensão da estrutura do filme de Allen, que abrange, dentro de si, outro filme, permitindo a relação entre enredos e personagens. Dependendo da capacidade interpretativa do espectador, esse obstáculo pode ser transposto com maior ou menor dificuldade. A armadilha da duplicidade criada pelo diretor levará boa parte do público a não duvidar da existência do filme dentro do filme, como se aquele fosse anterior ao de Woody Allen, que, ao fazer o seu, teve a “boa ideia” de resgatar um já feito.
Optando por fazer um filme nada convencional, a postura crítica do diretor é evidente, já que, para aqueles espectadores que elucidam as regras do jogo desde o começo, fica clara a possibilidade da criação de dois filmes, para compor um único produto. Sendo assim, a conflituosa relação entre construção e desconstrução do mundo corresponde à história de Cecília e à da expedição de um casal da elite ao Egito. A primeira é a realidade e a segunda, uma representação dentro da realidade da protagonista da primeira história, a principal. Com a inter-relação das duas, a realidade de Cecília e a do filme a que ela assiste são desconstruídas, mostrando a fragilidade de ambas, sobretudo a partir do contato com sua antítese aparente (a ficção, em se tratando da realidade, e vice-versa).
Para fugir da realidade de um casamento fracassado, Cecília, personagem de Mia Farrow, vai ao cinema constantemente. Os filmes servem de antídoto à sua vida infeliz e sem graça. Do mesmo modo, no filme em cartaz, a elite assume ter optado por uma expedição ao Cairo, para sair do tédio de sua rotina. E é justamente o explorador Tom Baxter, personagem de Jeff Daniels, o responsável por uma espécie de interlúdio, na vida do casal de magnatas e na vida de Cecília. As idéias de perfeição e ficção, constantemente associadas, fazem a protagonista se sentir em outro mundo, permitindo-lhe esquecer, ao menos momentaneamente, a escassez de dinheiro e a brutalidade do marido, personagem de Danny Aiello.
Interessante, no entanto, é perceber que, apesar de usar o cinema como válvula de escape para os desejos que não correspondiam a sua vida real, Cecília demonstra absoluta consciência da diferença entre realidade e ficção. Nem mesmo quando o personagem Tom sai da tela ela deixa de fazer distinção entre uma coisa e outra. Entre a realidade e a ficção, mesmo sabendo que sua história com Tom era efêmera e parcialmente real, pela condição ficcional dele, ela faz uso da situação para sentir como era ter a seu lado um homem gentil, apaixonado e disposto a tudo para ficar com ela. Diante disso, a pseudo-realidade de Tom deve-se, e muito, a Cecília: “Se o espetáculo cinematográfico dá uma forte impressão de realidade, é porque ele corresponde a ‘um vazio no qual o sonho emerge facilmente’” (METZ, 1972, p. 23, ênfase no original).
As coisas se complicam, ao final, quando Gil Sheperd, o ator que fez Tom Baxter no cinema, disputa o amor de Cecília com seu próprio personagem. Para o espectador, fica claro que a única preocupação de Gil é fazer Tom voltar para o filme. Importa para ele sua carreira, em franca ascensão, nem que para isso ele tenha de usar Cecília. No final, Cecília tem de decidir entre Tom e Gil. Ela julga que o conflito ainda é o mesmo, aquele de sempre, entre ficção e realidade, e toma sua decisão: despede-se de Tom e vai para a casa arrumar as malas, para ir embora com Gil. Mesmo optando pela realidade, ela optou pela perfeição, pelo homem rico e apaixonado. Parecia ter se esquecido de que a perfeição era coisa de cinema.
O resumo da ópera é que, mesmo achando que tinha feito a escolha certa (e, com Tom, nada seria possível por completo, afinal, havia as tais limitações, sobre as quais o elenco do filme já tinha alertado Cecília) ela escolhe deixar o marido e partir com o ator. Fascinada com a possibilidade de dar uma guinada em sua vida, ela não atenta para o fato de que, mais uma vez, tentava fugir da realidade, o que o marido constata de imediato, dizendo: “Não é como cinema, não. É de verdade. É vida de verdade” (A ROSA, 1985). Infelizmente, Cecília se dá conta disso tarde demais. Fica sem o ator e sem o personagem. Ao chegar ao cinema, descobre que o filme tinha saído de cartaz e que Gil Sheperd tinha voltado para Hollywood. Não lhe restava outra coisa, então, senão voltar para sua rotina, buscando a compensação momentânea da fantasia dos filmes.
No filme de Woody Allen, o que poderia parecer produto da imaginação de Cecília ganha status de realidade, porque outros personagens presenciam a saída inusitada de Tom do filme, bem como contracenam com ele, no mundo da realidade. Os elementos que podem ser arrolados, na tentativa de explicar a personificação de Tom Baxter, são a insistência de Cecília em usar o filme como instrumento de fuga de sua realidade e a dedicação do ator Gil Sheperd, ao fazer o papel. O primeiro item é acentuado pela quantidade de vezes que Cecília assiste ao filme, ideia passada pela repetição da apresentação dos créditos e de algumas cenas que mostram a chegada do explorador do Egito em Nova York, no apartamento do casal protagonista. Já o fato de o ator ter imprimido grande realidade ao personagem fica claro em algumas passagens do filme, com destaque para dois diálogos, o primeiro entre o ator e seu personagem e o segundo entre o ator e seu agente, logo que é informado do incidente:
— Eu tirei você das linhas e lhe dei vida.
— Então, eu estou vivo! (A ROSA, 1985)
— Eu trabalhei tanto para que parecesse real!
— É, é. Talvez você tenha se excedido. (A ROSA, 1985)
Na atuação, o poder de convencimento do ator foi tanto que o personagem, de verossímil, fez-se real. Mesmo sua realidade sendo bastante particular, pois ele não é como Cecília ou como o ator, sua condição garante-lhe um diferencial perante os demais personagens do filme em que atua. Apenas Tom consegue sair da tela e, quando o faz, de preto e branco ele torna-se colorido. A saída do personagem da tela rompe por completo com qualquer convenção ligada ao mundo real. A lógica é desafiada, porque não há como o incidente passar por uma alucinação coletiva. O insólito torna-se real; é um fato. A notícia ganha o mundo e o público divide-se entre aqueles que requerem o direito de assistir ao filme anunciado e aqueles que querem apenas fazer parte daquele acontecimento inédito, ficando por dentro das ideias que os personagens têm, para tenta trazer Tom de volta ao filme, ou simplesmente assistindo a eles matarem tempo, com um joguinho de buraco, por exemplo. E é justamente por isso que Woody Allen provoca uma discussão tão divertida sobre os limites entre realidade e ficção e o impacto de uma sobre a outra.
Até mesmo a reprodução da fita é colocada em debate, pois, ao sair do filme, Tom sente-se aliviado, como se tivesse sido libertado de um trabalho escravo, extremamente exaustivo: “[…] eu estou livre. Depois de duas mil monótonas apresentações eu estou livre” (A ROSA, 1985). Como se vê, a projeção ou reprodução do filme não passa pelo esquema comum de ter um filme pronto, em rolos, o que dá a garantia de cada sessão ser exatamente a mesma. Ao contrário, é como se Tom atuasse, como se estivesse em um palco, sessão após sessão. Mesmo não gozando da mesma condição de Tom, os outros personagens também se animam com a ideia de liberdade. Todos poderiam, finalmente, esquecer o script. O caos começa com a tentativa de resolver o problema, para que o filme siga normalmente. O protagonista chama um padre (personagem do rolo cinco, que agora estava no rolo dois). A ordem da história se altera por completo e as ações de Tom, no mundo real, interferem no enredo do filme. Por exemplo, sua escolha de ficar com Cecília o faz desistir de se casar com a cantora do Copacabana.
Aliás, na cena em que Cecília entra no filme, a convite de Tom, a cantora desmaia ao conhecer sua rival, ainda mais depois de saber que ela era “de verdade”. Nesse momento, o diretor leva a tensão entre os mundos, com o apagamento das fronteiras, às últimas consequências. Como se não bastasse isso, também concretiza o uso do cinema como fuga da realidade. No momento em que Cecília entra no mundo glamouroso do filme, diz: “A vida toda eu sonhei como seria a vida deste lado da tela” (A ROSA, 1985).
No Copacabana, Tom e sua convidada provocam uma reviravolta arás da outra, na história. O maítre, acostumado a providenciar mesa para seis pessoas, constata que agora são sete. O roteiro é quebrado e perde sua autoridade. O maítre, obrigado a desempenhar o papel que lhe foi dado, quando percebe a possibilidade de ser livre, faz um número de dança. É como se ele percebesse que as coisas não precisam ser sempre iguais e que até mesmo os personagens podem contestar as ordens recebidas e fazer a revolução. Indícios desse levante aparecem em dois momentos do filme, com bastante evidência. Um personagem chega a sugerir que ele e seus companheiros assumam o poder e transformem o público no “mundo paralelo, das sombras, dos sonhos” (A ROSA, 1985). Na mesma sequência, aparece a seguinte fala, espécie de conclamação: “Olhem só para nós. Ficamos sentados aqui, escravos de um maldito cenário, enquanto os marajás, em Hollywood, estão enriquecendo às nossas custas. […]. Afinal, somos nós que suamos. Somos nós que aparecemos na tela e não eles. Eu digo: ‘Uni-vos, irmãos!’” (A ROSA, 1985).
Anteriormente, neste estudo, foi mencionado que a metalinguagem surpreende o receptor, inserindo-o em um mundo novo e desconhecido. No filme em questão, esse processo não é experimentado apenas pelo público. Tom Baxter e Cecília também passam por isso. Assim como Tom sai da tela, Cecília entra no filme, no final. Ambos têm em comum a necessidade de experimentar mudar suas “realidades”. Os dois sentem falta de liberdade. É isso que os une. É a interferência de um na “realidade” do outro que dá uma pequena amostra de que o que eles ambicionam é perfeitamente possível. A diferença é que a mudança, para Cecília, é mais fácil, pois depende dela, apenas. Já no caso de Tom e dos demais personagens, a liberdade depende da dose de realidade que eles ganham, no momento em que os atores os representam. Outro ponto que Cecília tem a seu favor é a realidade, incontestável. Tom, mesmo passando a fazer parte de outro mundo, carrega o estigma de suas limitações como personagem.
Paradoxalmente, o personagem está numa espécie de limbo ou purgatório. Ele toca as pessoas, conversa com elas, é visto por todos, mas, na briga que tem com o marido de Cecília, não sai machucado e nem fica com o cabelo despenteado, porque é “imaginário”. Imaginário como, se ele interage com todos a sua volta? A única resposta é que, por mais estranho que pareça, Tom materializou-se, temporariamente, mas sem humanizar-se. Quando Tom diz a Cecília que está com fome, parece haver uma probabilidade de ele ter se tornado real. Doce ilusão, pois, logo, ele dá uma explicação bem plausível para aquilo: “Eu saí do filme antes da cena do Copacabana. É geralmente quando se come” (A ROSA, 1985). Tom não estava com fome, porque tinha se tornado real, mas porque seu personagem foi programado, como um robô, a comer sempre no mesmo horário, obedecendo à risca ao roteiro.
Tom estava no mundo real, diferente do seu, e seu ajuste dependia do abandono de concepções e hábitos moldados pelo universo ficcional. Em vários momentos do filme, Woody Allen usa a ingenuidade do personagem para dar espaço a situações cômicas e para brincar com a técnica cinematográfica, criticando, dessa forma, cenas clichês, como as do beijo entre o par romântico, sempre na penumbra. No mundo real isso não acontece e Tom estranhou quando a luz não foi se apagando, depois de ele ter beijado Cecília.

Nesse aspecto, merecem ser lembrados alguns episódios. Tom leva Cecília para um jantar romântico, tenta pagar com dinheiro cenográfico e, com a recusa do maítre, manda Cecília correr e tenta roubar um carro, que não funciona magicamente, sem a chave, como no cinema. A convite de uma prostituta, Tom visita um bordel e, em nome de seu amor por Cecília, acaba recusando uma “festinha” oferecida pelas garotas. Mas a ousadia maior cabe à passagem da igreja, quando Cecília tenta explicar a Tom o significado de Deus. A parte que se refere à criação ele entende, mas, levando para o mundo dele, conclui que Deus se resume a “Irving Sachs e R. H. Levine, os roteiristas de A rosa púrpura do Cairo” (A ROSA, 1985).
A tensão entre realidade e ficção chega ao ápice no instante em que ator e personagem se encontram. Eles ficam frente a frente, um igual ao outro, mas com a diferença que Gil Sheperd sempre faz questão de mencionar: Tom é perfeito, mas “não é de verdade” (A ROSA, 1985). O argumento é de peso, mas serve apenas para tentar manter a situação sob controle, com o domínio do ator sobre o personagem, claro. Gil tem uma cópia sua a solta pelo mundo: “Ele tem as minhas impressões digitais. As minhas!” (A ROSA, 1085). A partir dessa declaração de Gil, fica evidente que ele teme a possibilidade de Tom assumir o comando ou fazer algo que o coloque em apuros. Logo naquele momento, em que Gil Sheperd conseguia espaço no mundo das celebridades. O medo de Gil era real, mas infundado, já que Tom gozava apenas parcialmente do status de realidade. Ele dependia de referentes do mundo real para existir. Dependia do roteirista, do ator e até mesmo do projecionista, pois, se este desligasse o projetor, Tom ficaria preso no mundo da realidade, inadequado a ele, devido às limitações de seu status ficcional.
Em outras palavras, a projeção, acionada no mundo real, abre um portal que possibilita o trânsito entre os dois mundos. Essa dependência reforça a ficção e a vulnerabilidade do personagem, razão pela qual é extremamente coerente a escolha de Cecília, ao final da história, mesmo que ingênua. Mas não há problema. O autor implícito encarrega-se de dar o final mais adequado à história e a sua protagonista: a realidade nua, crua, irremediável. Sua vida era aquela e seria assim por muito tempo ainda, a menos que a mudança partisse da própria Cecília, no próprio mundo real, sem fazer uso do cinema como fuga.
A partir de um acontecimento insólito, em A rosa púrpura do Cairo, chega-se à afirmação do estranho como realidade, mesmo a situação apresentada sendo considerada impossível e incoerente, de início. Com tamanha ousadia, o diretor Woody Allen discorre sobre o efeito do cinema, uma arte capaz de tornar possível até a mais impossível das coisas e, além disso, uma arte que oferece ao espectador a fantasia como antídoto para o tédio do dia a dia. Dessa forma, o cinema é pensado sob duas perspectivas: entretenimento e técnica. Brincando com a noção de representação e realidade, a relação estabelecida entre o mundo real e o inventado coloca em xeque até mesmo a reprodutibilidade dos filmes. Tom Baxter não é meramente um personagem, sem vida. Ele não é igual às suas milhares de cópias. Ao sair do filme em que atua, o personagem não interfere diretamente nas outras sessões, nas inúmeras salas de cinema, espalhadas pelo mundo afora. A repercussão é gradativa e a pane ocasionada pela saída de Tom das telas, em New Jersey, vai afetando aos poucos as aparições do mesmo personagem, nas apresentações subsequentes do filme.
O fato de apenas em New Jersey ele ter saído do filme dá ao personagem o status de matriz, como se, a partir de uma falta dele, os demais produtos, da mesma série, pudessem apresentar defeito. Isso rompe não só com a noção de reprodução e, consequentemente, do filme como produto pronto e acabado. A ruptura estende-se à qualidade temporal da simultaneidade, já que o mesmo filme está sendo passado, ao mesmo tempo, em diversas cidades, mas apenas um apresenta problema.
Será que o problema do paradoxo foi finalmente resolvido? Nem tanto, pois, se Tom é único, prova de que sua ousadia não interferiu diretamente em suas cenas, nos filmes que estavam sendo projetados nas demais salas, naquele exato momento, por que ele faz referência ao fato de já ter participado de mais de duas mil apresentações, como se ele próprio tivesse atuado em cada uma delas? De novo, o problema da simultaneidade. Não seria possível, afinal, se ele fosse todos os Baxters ao mesmo tempo, por que apenas ele conseguiu sair da tela?
Para tentar uma resposta possível, há apenas uma saída: Cecília. Apenas a soma da convincente atuação de Gil Sheperd com a vontade de Cecília de experimentar o mundo do cinema e de acreditar nas histórias (lembrando que Cecília era uma espectadora comum), tornando-as reais pelo menos em seu mundo particular, poderia ter possibilitado a supremacia do Tom Baxter de New Jersey em relação aos demais personagens do explorador do Cairo, em cartaz em todo o mundo.
O realismo é um caráter subjetivo e, como tal, depende do autor e de cada receptor, já que cada espectador estabelece uma relação diferente com a obra. Talvez a relatividade desse conceito, explicitada por Roman Jakobson, sirva de ajuda para tentar entender o paradoxo do filme:
O que é o realismo […]? É uma corrente artística que propôs como seu objetivo reproduzir a realidade o mais fielmente possível e que aspira ao máximo de verossimilhança. […]. E já se evidencia a ambiguidade: 1. Trata-se de uma aspiração, uma tendência, isto é, chama-se realista a obra cujo autor em causa propõe como verossímil (significação A). 2. Chama-se realista a obra que é percebida por quem a julga como verossímil (significação B). (JAKOBSON, 1970, p. 120)
Não é tão confuso quanto parece! Tudo pode parecer mais aceitável e até normal, a partir de um detalhe: A rosa púrpura do Cairo foi escrito e dirigido por Woody Allen.