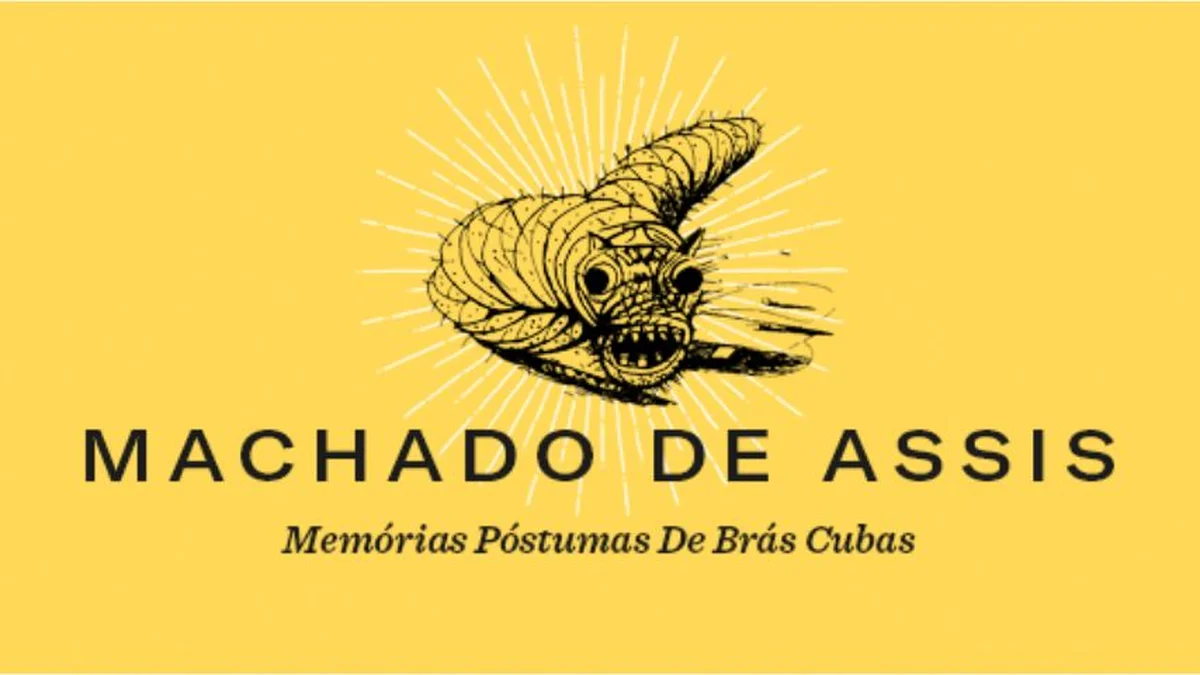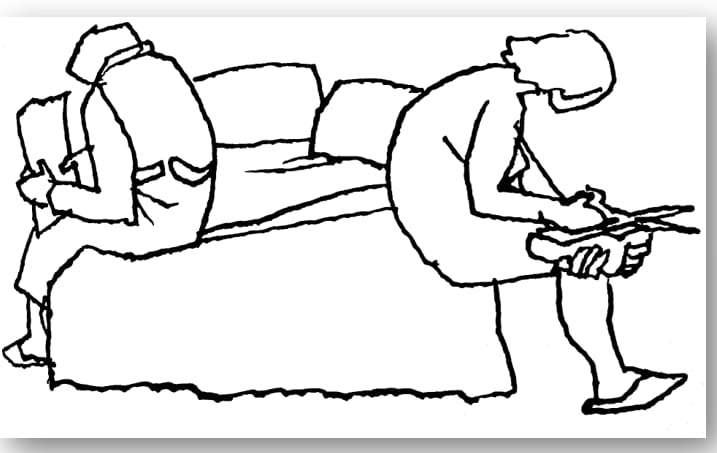O autor Roman Jakobson refere-se a dois níveis de linguagem: “[…] a linguagem-objeto, que fala de objetos, e a ‘metalinguagem’, que fala da linguagem.” (JAKOBSON, 1977, p. 127). Jakobson detém-se sobre esse assunto, quando focaliza o código como centro da função metalinguística da linguagem, que é identificada “sempre que o remetente e/ou o destinatário têm necessidade de verificar se estão usando o mesmo código”. (JAKOBSON, 1977, p. 127). Além disso, o autor considera a metalinguagem como elemento indispensável para o processo de aprendizagem das línguas. Manipular a linguagem revela, portanto, um amadurecimento com relação ao uso da língua como instrumento. A linguagem é colocada a serviço da arte. Sendo assim, o recurso metalinguístico, extremamente comum na arte, tem como principal função o desvendamento do processo criativo, postura que revela a intenção de repensar a arte, oferecendo possibilidades de ruptura, afinal a metalinguagem opera uma espécie de desconstrução de modelos. Os discursos que apresentam essa estrutura desconstroem para reconstruir, firmando o novo sobre o antigo, que é revitalizado, passando a ser visto sob uma nova ótica.
Fora a oposição entre novo e antigo, outros rompimentos são ocasionados, com o uso da metalinguagem, e talvez o mais complexo seja aquele que compreende a relação entre ficção e realidade. Tudo o que era ligado ao contexto extra-artístico, como o autor e a própria criação, é transferido para o universo ficcional, desconsiderando-se, portanto, determinadas convenções. Sendo assim, o objetivo deste breve texto é analisar como a metalinguagem interfere nas concepções de autoria e recepção, com base nos estudos de Patricia Waugh e Linda Hutcheon.
Metalinguagem e autoria
Além da relativização da realidade, outro conceito tradicional que é abalado pela arte metalinguística é o do autor. No momento em que o autor, seja ele escritor ou diretor, cria um universo artístico paralelo, regido por outro autor (personagem), uma espécie de duplo de si mesmo, sua identidade praticamente desaparece. Logo, a existência do autor criado aumenta ainda mais a distância a obra e o escritor ou diretor. Tal subterfúgio cria, em alguns leitores e espectadores, considerados por Umberto Eco “ingênuos”, a sensação de que o autor-personagem existe de fato. Sendo assim, por associação, essas pessoas encaram também a ficção como realidade. Percebe-se, então, que, para participar do jogo da metalinguagem, é necessária uma competência distinta, no ato da recepção, que atenda às expectativas do livro ou do filme, completando suas “lacunas” de forma adequada.
Criando um autor, é como se escritor e diretor, que são referências externas, passassem a fazer parte do texto criado, já que eles terão um representante, com a mesma função criadora. Esse processo, tensionando as relações entre realidade e ficção, estabelece um jogo cujo objeto é a autoria. O nome do escritor ou do diretor real ou empírico é praticamente desconsiderado do paratexto e é um personagem quem assume essa função. Esse fato transforma-se em um paradoxo para o leitor/espectador, cuja ideia de autor é, como menciona Lauro Junkes, a de “alguém que existe de fato e tem sua importância inegável para a existência da obra” (JUNKES, 1997, p. 48). É por esse motivo que boa parte do público, que não segue ou não entende as regras do jogo imposto pela metalinguagem, encara o autor criado como sujeito real.
Dando continuidade a essa problemática instituída pela metalinguagem, Junkes ainda afirma que, embora a comunicação entre público e autor empírico não seja feita de modo direto, este “não é um ausente/inexistente, pois em última análise é ele que usa um discurso e cita outros, embora estritamente não tenha voz, pelo que, mesmo no silêncio, ele não está ausente” (JUNKES, 1997, p. 48-49, grifo no original). Talvez o processo de criação seja mais bem compreendido, a partir do resgate do que Wayne Booth chama de “autor implícito”. Essa instância é qualificada como “‘o alter ego’ do autor”, uma “imagem implícita de um autor nos bastidores, seja ele diretor de cena, operador de marionetas ou Deus indiferente que lima, silenciosamente, as unhas” (BOOTH, 1980, p. 169, grifo no original).
Estudando o conceito de Booth, Junkes cita Chatman, que assim se refere ao autor implícito: “O autor implícito é a agência dentro da própria ficção narrativa que guia qualquer leitura da mesma. Toda ficção contém tal agência. Ele é o princípio (source) — em cada leitura — da invenção da obra. Ele é igualmente o locus da intenção (intent) da obra” (JUNKES, 1997, p. 190, grifo no original). Lauro Junkes, completando a afirmação de Chatman, considera o autor implícito um “segundo Self, uma imagem sua que o autor cria na obra” (JUNKES, 1997, p. 192, grifo no original).
Apesar de vários críticos recuperarem o conceito de Booth, alguns atribuem a ele nomes que julgam mais apropriados. Essa lista abrange, por exemplo, “autor implicado”, “autor inferido”, “autor do leitor”, ou, como prefere Aguiar e Silva, “autor textual”. Porém, há autores que trabalham com conceitos parecidos ao de Booth, embora não totalmente correspondentes a ele, como Umberto Eco. É comum a associação entre os conceitos de “autor implícito”, de Booth, e “autor modelo”, de Eco, mas essa relação é parcialmente equivocada, já que, diferentemente do autor implícito, o autor modelo tem voz, podendo-se dirigir diretamente ao público e fazer uso da palavra como qualquer outro personagem. Os únicos pontos que assemelham os dois conceitos são o fato de o autor modelo corresponder ao leitor modelo (categoria em que também o espectador pode ser incluído), assim como o autor implícito também corresponde a um leitor (e espectador) implícito, e o fato de o autor implícito e o autor modelo estarem situados entre o autor empírico e a história criada.
Junkes, no final de Autoridade e escritura, volta a falar do autor implícito como uma forma de resolver o velho problema de confusão entre ficção e realidade: “[…] experimenta-se um dilema: por um lado, sente-se necessidade da presença do autor […] e, por outro, na medida em que o autor faz parte do mundo real, sua presença na obra destrói a essência da ficção” (JUNKES, 1997, p. 225). Mas essa solução não funciona para a metalinguagem, já que, dentro de um livro ou de um filme com essa característica, há alguém que desempenha essa função de autor. Esse processo de ida e volta comprova, mais uma vez, o paradoxo do recurso metalinguístico.
A partir de Bakhtin, que entende que o ”autor, em seu ato criador, deve situar-se na fronteira do mundo que está criando, porque sua introdução nesse mundo comprometeria a estabilidade estética deste” (BAKHTIN, 1997, 205), pode-se concluir que o autor criado funciona para que essa posição ou postura seja mantida. Em outras palavras, o autor continua tendo as atribuições de sempre. Aliás, é para garanti-las que ele cria uma espécie de homônimo e o insere na história. Essa característica da metalinguagem implica o processo autoconsciente da produção artística e o rompimento da ilusão criada a priori. Esse é o diferencial da metalinguagem.
Tanto os livros como os filmes criam um mundo ficcional, ou o que Linda Hutcheon prefere chamar de “heterocosmo”, mas apenas aqueles que são metalinguísticos jogam com a construção e a desconstrução do mundo. Segundo Patricia Waugh, a metalinguagem também serve de metáfora para o mundo real: “Metaficcional deconstruction […] has also offered extremely accurate models for understanding the contemporary experience of the world as a construction, an artifice, a web of interdependent semiotic systems” (WAUGH, 1993, p. 9). Mais adiante: “In showing us how […] fiction creats its imaginary worlds, metafiction helps us to understand how the reality we live day by day is similarly constructed, similarly ‘written’” (WAUGH, 1993, p. 18, grifo no original).
Metalinguagem e recepção
Pensando especificamente no papel do receptor, a metalinguagem é um exemplo de recurso que desestabiliza o leitor e o espectador diante do livro e do filme, respectivamente, já que, rompendo-se com o modelo tradicional de narrativa, o público, por vezes, sente-se incapaz de lidar com aquele novo tipo de organização. Em outras palavras, a metalinguagem insere o receptor em um mundo não totalmente conhecido e dominado por ele e é resultado da imposição de um novo modelo narrativo, que une criação e crítica, as quais, normalmente, fazem parte do contexto extraliterário ou extrafílmico, já que o crítico e o autor são empíricos. Tornando o escritor ou o diretor um personagem e fazendo com que o livro ou o filme criado apareça no reduto da ficção, impõem-se novas regras para o ato da recepção e, consequentemente, para a interpretação. Paradoxalmente, a metalinguagem constrói um mundo ficcional com maior ligação com a realidade, já que a história vai se completando, à medida que o livro ou o filme vai chegando ao fim, transformando o leitor/espectador em coautor ou coprodutor, ao mesmo tempo em que desconstrói a expectativa primeira do sujeito em relação à obra, já que esta, por apresentar novas regras, exige outra postura interpretativa.
Segundo Linda Hutcheon: “In metafiction the reader or the act of reading itself often become thematized parts of the narrative situation, acknowledged as having a co-producing function” (HUTCHEON, 1985, p. 37, grifo no original). Mais adiante: “Metafictions, on the contrary, bare the conventions, disrupt the codes that now have to be acknowledged. The reader must accept responsibility for the act of decoding, the act of reading. Disturbed, defied, forced out of his complacency, he must self-consciously establish new codes in order to come to terms with new literary phenomena” (HUTCHEON, 1985, p. 39).
Redefinido, então, a função do receptor, a metalinguagem vai ao encontro da concepção de Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser e outros estudiosos e adeptos da teoria responsiva, que veem o leitor/espectador como peça-chave na atividade interpretativa. Apesar das variantes entre os pensamentos desses teóricos, todos concordam em um ponto: o receptor é o construtor do sentido da obra, o que é consequência não mais de uma passividade, mas de sua participação ativa na produção de um sentido para a obra. Em outras palavras, além de consumidor, o público é também produtor.
Iser, ao retomar o conceito de “concretização”, usado, anteriormente, por Ingarden e Vodicka, refere-se à necessidade de o receptor dar vida ao texto, preenchendo suas “lacunas”. Essa complementação, por sua vez, exige que o público aja sobre o produto artístico, resgatando seus conhecimentos prévios, que compõem sua bagagem cultural, a fim de relacioná-los ao conteúdo do que está sendo analisado. Por esse motivo, a estrutura da obra de arte em geral é aberta e “de apelo”.
Não basta que um livro seja editado ou que um filme seja lançado para que existam. Eles devem ser consumidos, de fato, afinal, a natureza dessas obras é social, o que as faz estabelecer uma forte interação com o público, uma relação de mão dupla. Por isso, de acordo com Regina Zilberman, desconsiderar a “experiência” que o receptor deposita em determinada obra, na tentativa de compreendê-la, resulta na negação da arte como “fato social”, já que, quando a obra “age sobre o leitor”, seja ela literária ou fílmica, “convida-o a participar de um horizonte que, pela simples razão de provir de um outro, difere do seu. É solidária e diferente ao mesmo tempo, sintetizando nesse aspecto o significado das relações sociais” (ZILBERMAN, 1989, p. 110).
Transformando a linha divisória entre realidade e ficção em uma marca mais tênue e quase invisível, a metalinguagem tenta distanciar o público da obra, dando indícios de que aquilo que ele está lendo ou vendo foi produzido, criado. Dessa forma, na recepção de um produto metalinguístico, surge a noção de realidade, para afastá-lo do universo de ilusão e de fantasia. Essa característica dá mais atribuições ao receptor, que, além de contribuir com o livro ou com o filme, conferindo-lhe um sentido, deve transitar com razoável desenvoltura entre dois mundos tão distintos. Nas palavras de Patricia Waugh: “Metafiction functions through the problematization rather than the destruction of the concept of ‘reality’. It depends on the regular construction and subversion of rules and systems” (WAUGH, 1993, p. 40, grifo no original). Com essa estrutura, tão complexa e intricada, o texto metalinguístico exige um leitor extremamente atento aos índices de ficcionalidade da obra, sem que seja facilmente seduzido pelos personagens ou pelo enredo.