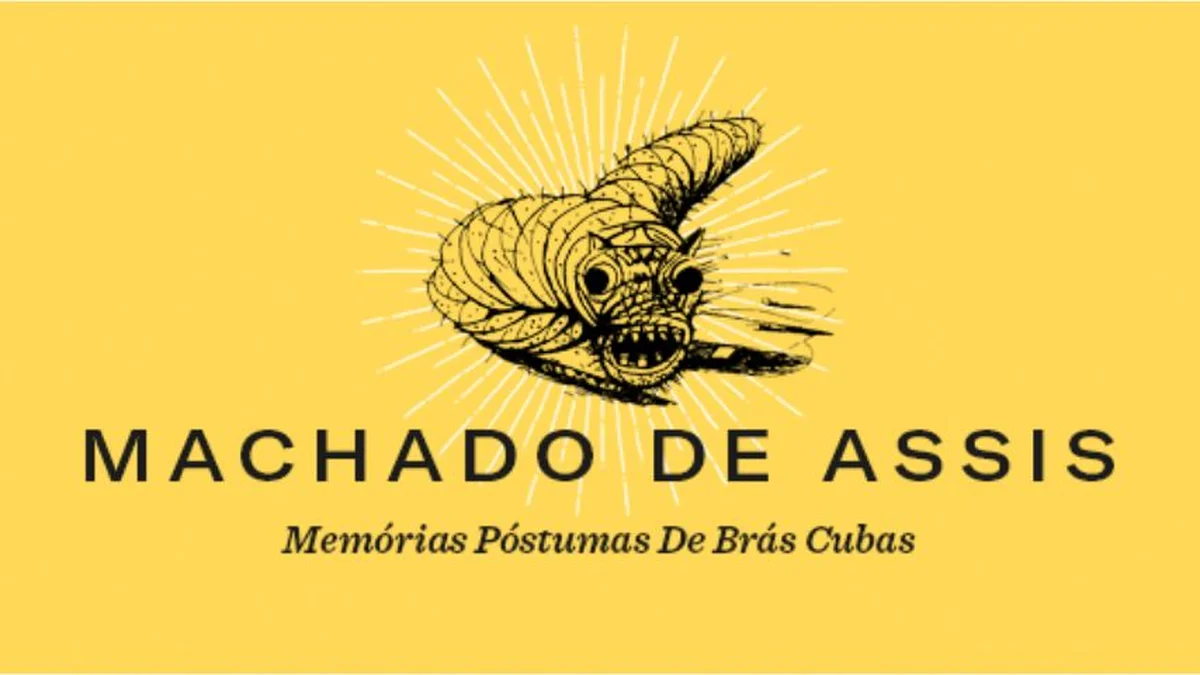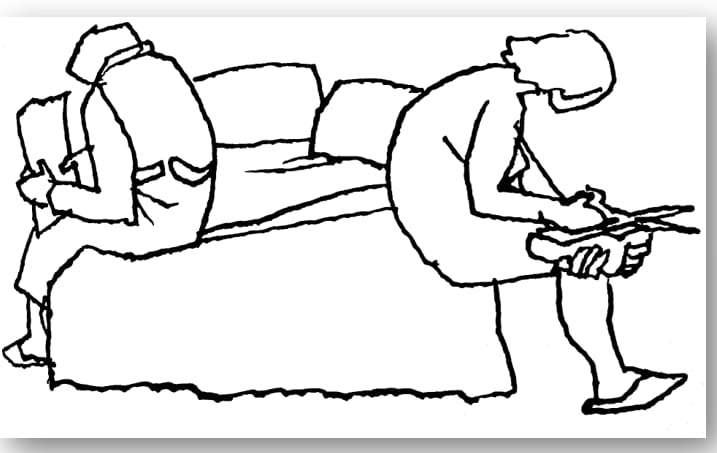O processo contínuo da formação da identidade, conforme Stuart Hall
[…], há a ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade. A identidade nacional é representada como primordial — “está lá, na verdadeira natureza das coisas”, algumas vezes adormecida, mas sempre pronta para ser “acordada” de sua “longa, persistente e misteriosa sonolência”, para reassumir sua inquebrantável existência […]. Os elementos essenciais do caráter nacional permanecem imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da história. Está lá desde o nascimento, unificado e contínuo, “imutável” ao longo de todas as mudanças, eterno. (HALL, 2001, p. 14, grifo no original)
Tradição inventada significa um conjunto de práticas…, de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas de comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica continuidade com um passado histórico adequado. ((HALL, 2001, p. 14)
Os confortos da Tradição são fundamentalmente desafiados pelo imperativo de se forjar uma nova auto-interpretação, baseada nas responsabilidades da Tradução cultural […]. Outro efeito desse processo foi o de ter provocado um alargamento do campo das identidades e uma proliferação de novas posições-de-identidade, juntamente com um aumento de polarização entre elas. Esses processos constituem a segunda e a terceira conseqüências possíveis da globalização, anteriormente referidas — a possibilidade de que a globalização possa levar a um fortalecimento de identidades locais ou à produção de novas identidades. (HALL, 2001, p. 23)
Algumas identidades gravitam ao redor daquilo que Robins chama de “Tradição”, tentando recuperar sua pureza anterior e recobrir as unidades e certezas que são sentidas como tendo sido perdidas. Outras aceitam que as identidades estão sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença e, assim, é improvável que elas sejam outra vez unitárias ou “puras”; e essas, consequentemente, gravitam ao redor daquilo que Robins (seguindo Homi Bhabha) chama de “Tradução”. (HALL, 2001, p. 24, grifo no original)
Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns num mundo globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era da globalização, como estando destinada a acabar num lugar ou noutro: ou retornando a suas “raízes” ou desaparecendo através da assimilação e da homogeneização. Mas esse pode ser um falso dilema. (HALL, 2001, p. 24, grifo no original)
[…] existem […] fortes tentativas para se reconstruírem identidades purificadas, para se restaurar a coesão, o “fechamento” e a Tradição, frente ao hibridismo e à diversidade. (HALL, 2001, p. 25, grifo no original)
A tradição do personagem Jeca Tatu e a tradução do caipira no filme A marvada carne
André Klotzel, em 1985, com A marvada carne, também faz uma viagem no tempo, quando retoma as principais tradições da cultura caipira. O tom de homenagem a um modo de vida já obsoleto, mas que preserva peças importantes de nossa História, no que diz respeito aos aspectos folclórico, religioso, linguístico e até mesmo social, pode ser interpretado como reação clara à globalização. A cultura caipira é, no filme, ponto de partida e complemento da cultura “civilizada”, porque marca a evolução da sociedade, que, com o tempo, vai substituindo um modo de vida por outro, em decorrência do estreitamento das relações entre campo e cidade, e porque, mesmo com a mudança, a cultura caipira, apesar de ter perdido espaço, tem uma função complementar e essencial, porque funciona como contraponto para as atribulações da vida moderna nas grandes metrópoles. Contemporaneamente, é como se o modo de vida caipira pudesse ser usado para desacelerar o ritmo de vida das grandes cidades, servindo de instrumento de crítica da sociedade atual.
Entretanto, o fato de André Klotzel revisitar o universo caipira não se deve apenas à globalização. Como acontece em qualquer releitura, o referente do passado que é tomado como base é revitalizado pela interferência do tempo presente e da ideologia que orienta e caracteriza a época atual. Apesar de, algumas décadas antes, o caipira ter inspirado vários filmes de Mazzaropi, era preciso mudar a ênfase dessas representações, muito baseadas na falta de traquejo social e na vagabundagem, características que revelavam reducionismo e preconceito, em relação ao homem do campo.
Façamos, então, uma breve comparação de A marvada carne com Jeca Tatu, de Milton Amaral. À primeira vista, chamam atenção as semelhanças, dentre as quais se destacam a representação do universo caipira e o trabalho da atriz Genny Prado, cuja participação, no filme de André Klotzel, foi um modo interessante e respeitoso que o diretor encontrou para vincular seu filme à obra de Mazzaroppi, que se transformou em referência da cultura caipira no cinema, e para aproveitar a experiência de Genny Prado no filão que objetivava revisitar com A marvada carne.
Apesar de o caipira em si ser percebido como ponto comum nas duas produções um olhar mais atento revela que há diferenças importantes no delineamento dos personagens. Esse afastamento, claro, já é resultado da nova perspectiva adotada por Klotzel na representação do caipira. Para tornar mais nítida essa mudança, observem-se alguns exemplos. Enquanto nhô Quim representa o trabalho e a ambição de uma vida melhor, o Jeca entrega-se ao ócio, do começo ao fim da história. Quim trabalha para sobreviver. Jeca, ao contrário, prefere que os outros trabalhem por ele, como bem mostra a cena do final, quando um mutirão é feito para a construção de sua nova casa e, enquanto todos trabalham, ele dorme. Retrabalhando o perfil do personagem principal, em seu filme Klotzel se propõe a derrubar alguns estereótipos normalmente relacionados ao caipira e o ócio é um deles.
Em artigo que analisa a personalidade de Jeca Tatu, Jacy Alves de Seixas faz uma lista considerável de defeitos que, por caracterizarem o Jeca, foram tomados como sinônimos do caipira de um modo geral. André Klotzel transforma isso e mostra que ser caipira é ser algo bem diferente do Jeca de Monteiro Lobato e de Milton Amaral. Para fazer o teste, basta tentar enxergar estas qualidades do Jeca em nhô Quim (de antemão, advirto que a empresa será um fracasso total, porque com o personagem de Klotzel, chega-se à conclusão de que jeca é jeca e caipira é caipira):
Jeca é aquele que vive […] na espera e esperança dos “favores” e da salvação. O brasileiro jeca-tatu designa e delineia o sujeito apequenado, aviltado […], desconsiderado;
[…] sua conduta prima pela ingenuidade […] e pela preguiça atávica. […].
Ele não se situa na vida, […] mas na sobrevivência mais imediata.
Figura, assim, o sujeito-passivo das relações de favor […].
O fatalismo é o traço mais marcante de sua sensibilidade. O “não paga a pena” serve de justificativa para sua falta de (re)ação e investimento em si. (SEIXAS, 2003, p. 176-177, grifo no original)
A inquietação constitui traço de fundamental importância para a releitura da cultura caipira proposta por Klotzel. Com caráter totalmente oposto ao de Jeca Tatu, nhô Quim é mais um inquieto disposto a “mudar o mundo”. Nas duas vezes em que o personagem parte em busca de seu objetivo, é o fato de ele achar tudo “muito igual” que o impele. A princípio, o personagem tenta realizar seu sonho, mantendo-se no campo, quando sai do lugar onde mora e vai em busca de uma parente distante, nhá Tomaza, no “Arraiá da Véia Torta”, e “assentá rancho” por lá. Porém, apesar de conseguir uma mulher e filhos, faltava-lhe, ainda a “carnica” de um boi de verdade. O personagem não mede esforços para concretizar o sonho da carne, que simboliza a metrópole. Quim convence-se de que apenas na cidade grande conseguirá comer carne de boi e, depois de fazer negócio até com o Diabo, parte em sua aventura urbana.
Os conceitos de Stuart Hall no cinema contemporâneo
Enquanto o filme O artista volta-se para o passado e retoma a estética do cinema mudo, Boyhood inova no modo de fazer cinema e apresenta um filme que foi feito em partes, acompanhando a transformação dos personagens/atores durante doze anos. A seguir, reproduzo trechos de duas resenhas, para evidenciar as características próprias de cada filme:
O Artista é uma das gratas surpresas cinematográficas do ano. Uma adorável homenagem ao cinema sem ares de nostalgia barata. Nele, o diretor e roteirista francês Michel Hazanavicius caprichosamente recria a estética do cinema mudo para contar a história de um astro de cinema que se recusa a adaptar-se à revolução do som no início dos anos 1930. Uma obra tomada por um tom entusiástico e consistente que é praticamente impossível não ser arrebatado pela alegria efervescente que permeia cada cena. (GUERRA, 2016)
Boyhood: Da infância à juventude […] venceu o Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim deste ano e é um dos favoritos a ser indicado ao Oscar 2015. O que tem chamado tanto a atenção da crítica e do público é o fato de o filme ter sido gravado aos poucos durante 12 anos. O drama, que acompanha o garoto Mason dos 6 aos 18 anos, tem Ethan Hawke, Patricia Arquette, Ellar Coltrane e Lorelei Linklater.
Em um vídeo de divulgação, em que os atores falam sobre os bastidores de Boyhood, o diretor e produtor Richard Linklater afirma que o filme foi um “salto de fé”, uma vez que o elenco aceitou amadurecer em frente à tela durante mais de uma década. (GLOBO, 2016, grifo no original)