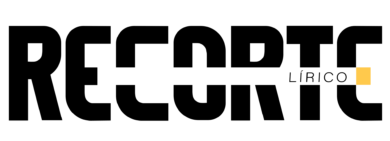Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro é um autor que não “funga em seu pescoço”
Da orelha de seus livros, Kazuo Ishiguro encara o leitor com um olhar plácido e levemente irônico. Se a onda do momento é a autoficção, o autor grudado no cangote do leitor (chorando, praguejando ou oferecendo seu ruidoso niilismo, mas sempre com um bafo quente em seu pescoço), Ishiguro oferece distância. Em seus livros, o leitor se aflige enquanto a narrativa não se dobra a espelhar essa emoção.
Ao anunciá-lo como novo vencedor do Nobel, a secretária permanente da Academia Sueca Sara Danius descreveu sua obra como uma mistura de Jane Austen, Franz Kafka e uma pitada de Marcel Proust. Não é bem assim. Em Austen, uma forte interioridade luta contra o mundo exterior e absorve-o. Há indignação e embate direto contra a realidade. Em Kafka, os personagens são jogados em situações bizarras que fogem a sua própria normalidade e que eles reconhecem como anômalas, se angustiam com isso. Já em relação a Proust, este apresenta um narrador muito mais honesto consigo mesmo e com seu leitor, alguém que se lança ao passado com curiosidade genuína e tentativa de reconstrução.
Em Ishiguro, os personagens são nativos da anormalidade e desesperam o leitor justamente por sua aparente incapacidade de se desesperarem. A percepção do absurdo está antes no leitor do que no personagem. Isso quando a narrativa não consegue envolver o leitor de tal forma que mesmo ele por vezes perde essa noção. A postura diante do passado é de autoengano e racionalização, não de curiosidade e recomposição.
O controle que Ishiguro impõe à narrativa deixa o leitor em um terreno muito movediço em que quase nada pode ser afirmado com segurança — nas palavras do resenhista americano Mark Kamine, “poucos autores se atrevem a entregar tão pouco do que querem dizer”. Sua prosa elíptica, esparsa e o uso original do já batido narrador não confiável exploram os enganos da memória, as ficções internas que se constroem com o passar dos anos, a internalização das repressões e as dúvidas sobre escolhas passadas e presentes.
Seus três primeiros livros – Uma pálida visão dos montes (1982), Um artista do mundo flutuante (1986) e sua obra-prima, Os vestígios do dia (1989) – compõem uma espécie de trilogia sobre o rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Todos eles trazem narradores em primeira pessoa que, em uma idade avançada, resolvem fazer um relato enviesado que busca uma reconciliação mínima com o passado. Para isso, escondem mais do que iluminam suas vidas, sempre moldadas por eventos das guerras e, mais particularmente, por uma sensação de ter estado do lado errado desses eventos. Nas palavras do crítico indiano Amit Chaudhuri, são livros sobre “a vergonha de estar do lado errado da história”. Trata-se de personagens que viveram a guerra em posições periféricas: uma dona de casa, um pintor, um mordomo. Mesmo assim, trazem sequelas por não terem tido a postura que gostariam diante do absurdo. Formalmente, todos eles são romances realistas com uma prosa límpida e ancorada em fatos históricos. Todos se apoiam na constante reiteração e retificação dos episódios relatados como forma de apresentar ao leitor pequenas contradições e deslizes do narrador em relação aos fatos narrados; todos partem de uma tentativa vacilante de entrar em termos com algum aspecto do passado.

No mais importante deles, Os vestígios do dia, Ishiguro apresenta os dilemas de um mordomo inglês às voltas com os “pequenos erros” que vem cometendo no trabalho. Criado exemplar e orgulhoso, o narrador Stevens depara com mudanças em seu cotidiano que incluem uma redução drástica no número de funcionários da casa que administra e a troca de seu antigo patrão, um lorde, por um americano rico que não enxerga nem os tais erros que tanto incomodam o mordomo nem o valor da excelência que ele tenta imprimir a todos os detalhes da casa. O narrador parte desses pequenos erros domésticos – coisa da ordem de um talher mal polido na mesa de jantar – para refletir sobre sua vida, profissão e sobre as mudanças que abalaram seu mundo aparentemente estável.
A narrativa se inicia em 1956 na mansão de Darlington Hall, em Oxfordshire, no sudeste da Inglaterra, quando Stevens, a essa altura um senhor de idade, serve de mordomo a um americano que comprou a casa após a morte de seu antigo patrão, Lorde Darlington. A maior parte dos fatos narrados, no entanto, se concentra durante o entreguerras, um período que Stevens entende como sendo o auge de sua carreira, mas quando na verdade ele servia a um nobre nazista.
O romance entremeia fatos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes, da Segunda Guerra dos Bôeres e das mudanças sociais vividas pela Grã-Bretanha nesses períodos ao relato ficcional de um homem que faz um trabalho aparentemente desprovido de importância política para uma classe social de função já predominantemente decorativa.
Embora um contexto histórico bastante eloquente e específico molde as opiniões e afete diretamente a vida do protagonista, ele raramente vem à tona na narrativa. Se nos dois trabalhos anteriores a guerra e a bomba atômica compunham uma espécie de música ambiente ensurdecedora, aqui o nazismo, a colonização e a perda de importância da Inglaterra no cenário mundial operam como um tigre na sala de jantar com o qual o mordomo pretende lidar com um tiro discreto e uma refeição servida no horário de sempre.
O livro recebe a forma de um diário de viagem. Após uma vida inteira passada entre as paredes de sua Darlington Hall, Stevens fará uma pequena viagem para encontrar uma ex-governanta da casa. Ao fazer isso, entra em contato com gente que, ao contrário dele, está em sintonia com a época em que vive: uma época em que casas de campo daquele tipo estão em extinção, em que criados como ele são relíquias de museu e em que os valores que ele passou a vida cultivando – excelência, lealdade, permanência, tradição – são mercadoria desvalorizada.
A viagem enquanto percurso de transformação do personagem é um tema clássico da literatura, mas os narradores de Ishiguro são firmes e defendem com afinco sua bolha de crenças. Não sucumbem facilmente aos fatos.
Olhando para sua obra, composta até aqui de sete romances e uma coletânea de contos, pode-se ter a impressão de um escritor eclético. Nela há do romance histórico à ficção científica, passando pela fantasia. Superficialmente, tudo parece mudar, mas, no fim, são os mesmos temas e, mais do que isso, o mesmo propósito, o mesmo direcionamento. É como se cada novo romance funcionasse como um novo exemplo do que ele insiste em dizer. Como se, diante de uma audiência de difícil convencimento, o escritor se desdobrasse em tentativas de dizer as mesmas coisas.
Não é um autor que se curve aos temas do momento. Dificilmente sua próxima obra será uma resposta ao Brexit – contra o qual militou ativamente – ou um retrato de um mundo onde um fanfarrão cor de abóbora controla os botões que podem nos explodir em pedaços. Mas talvez seja um escritor com muito a dizer para essa geração de leitores formados. Uma geração que talvez tenha de lidar com um mundo onde seus valores se tornam velharia excêntrica e onde nem todos terão o conforto de ter feito o que podiam no pequeno lugar que ocupavam.
Fonte: Juliana Cunha (Caderno de Cultura da “Época)
*O título deste texto foi renomeado pela redação do portal Recorte Lírico.
Da Redação