Dando continuidade às comemorações do “Abril de Shakespeare”, publico aqui a segunda parte do texto sobre a adaptação fílmica de Michael Almereyda (leia primeira parte clicando aqui), uma leitura contemporânea de Hamlet. “MACHINA FATALIS”
Na cultura grega da Antiguidade, as pessoas de uma mesma família são inseridas em um processo atávico de punição pelos erros de seus ascendentes. Desse modo, o erro de um antecessor espalha o caos sobre toda a família e deve ser corrigido por ele ou por alguém das futuras gerações. O descontrole (hýbris) que gera o erro (hamartía) exige que se cumpra um longo e penoso caminho de expiação (catábasi), a fim de que, ao término dos obstáculos, ocorra uma espécie de renascimento, com o reestabelecimento da ordem e do equilíbrio (anábasi). No caso específico de Hamlet, têm relevância o descontrole e o erro.
O descontrole se opõe ao comedimento estóico, ou ao que os mitólogos denominam métron, e é resultado de uma escolha, apenas sob o ponto de vista cristão. Na cultura pagã, o excesso é parte inerente da trajetória do herói, previamente traçada e inalterável (moira = destino). Logo, a força de tragédias como Édipo-rei e Hamlet está, justamente, na tentativa vã de o herói resistir, evitando o descontrole, mas de, ao fim, esse se mostrar inevitável. Retomando a tragédia de Sófocles, isso pode ser facilmente ilustrado com a tentativa de Édipo de fugir de Corinto, em direção a Tebas, evitando que se cumprisse a profecia do oráculo de que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Como, para ele, os pais que ele conhecia eram Pólibo e Mérope, partiu, achando estar fazendo o certo. No entanto, como não cabe aos mortais tentarem mudar o que lhes foi pré-determinado, Édipo, sem saber, tentando evitar seu destino, caminhava em direção a ele.
Desse modo, torna-se possível uma leitura que identifique, na peça de Shakespeare, influências não apenas do mundo elisabetano, mas também e, sobretudo, da tragédia grega, o que vai contra a leitura de críticos como Bárbara Heliodora, que, em Reflexões shakespearianas, observa: “No mundo elisabetano, […] estamos em um universo essencialmente cristão, no qual o princípio do livre arbítrio é de suma importância, pois, segundo ele, cada homem é responsável por todas as suas ações” (HELIODORA, 2004, p. 122). Além de, em Hamlet, haver um transbordamento dessa responsabilidade, pois não é apenas quem comete o erro que paga por ele (e esse é o primeiro ponto que justifica a leitura da peça com base nos padrões das tragédias gregas), a própria autora, páginas adiante, refere-se à inevitabilidade dos fatos, o que não corresponde totalmente à escolha propiciada ao personagem pelo livre-arbítrio:
A calamidade não acontece, não é enviada: ela se origina de ações executadas por seres humanos. Porém, temos que admitir que há circunstâncias que pesam sobre esses seres [grifo nosso], o que acaba por sugerir uma cadeia aparentemente inevitável de acontecimentos: mesmo que as ações cruciais sejam de responsabilidade do herói, elas desencadeiam conseqüências e forças que conduzem inevitavelmente à catástrofe final. (HELIODORA, 2004, p. 127)
Para os gregos, essas “circunstâncias” constituem a môira, que, segundo Junito Brandão, significa destino, o qual “simbolicamente é ‘fiado’ para cada um. […] o destino, em tese, é fixo, imutável, não podendo ser alterado nem pelos próprios deuses” (BRANDÃO, 2002, p. 141). Hamlet demonstra total consciência da incapacidade, sua e de qualquer outro, de mudar o que já fora traçado, quando, advertido por Horácio de que sua vingança poderia custar-lhe a vida, afirma: “Se tiver que ser agora, não está para vir; se não estiver para vir, será agora; e se não for agora, mesmo assim virá” (SHAKESPEARE, 1995, p. 165, V, ii). Não é só a idéia de destino, tal como concebiam-no os gregos, que fica explícita no trecho transcrito acima, mas também a segurança de que, tendo cometido um descontrole, mesmo que em função do erro de outro (Claudius), sua punição viria, mais cedo ou mais tarde. Levando-se em conta a tarefa que o fantasma do pai impõe a Hamlet, desde que lhe apareceu pela primeira vez, e também sua nobreza, o momento em que o protagonista age por impulso, matando Polônio em vez de Claudius, serve para diminuir sua areté, que pode ser entendida como superioridade ou excelência.
Outro impedimento para o uso do livre-arbítrio é a condição de Hamlet, um príncipe, que, como tal, não pode agir apenas pensando em si mesmo, afinal, depende dele o futuro de todo o reino da Dinamarca. No texto de Shakespeare e também no filme de Almereyda isso é lembrado por Laerte a Ofélia: “Ele não pode, qual os sem valia,/ Escolher seu destino, dessa escolha/ Depende a segurança e o bem do Estado” (SHAKESPEARE, 1995, p. 45, I, iii). Isso é mencionado por Bárbara Heliodora como uma herança medieval. Porém, já no teatro grego, acontecia da mesma forma. Édipo, ao se casar com Jocasta, assume o trono de uma Tebas devastada e assolada pelas piores desgraças, que só teriam fim, de acordo com o oráculo, quando o assassinato do rei fosse expiado. Por essa razão, tanto no texto de Shakespeare, que inclui a célebre frase: “Algo está podre aqui na Dinamarca” (SHAKESPEARE, 1995, p. 52, I, iv), quanto no de Sófocles, “[…] a importância da função do protagonista empresta-lhe um significado simbólico que extrapola a ação para toda a comunidade” (HELIODORA, 2004, p. 126).
Dessa maneira, a condição superior dos personagens e a repercussão de seus atos levam à associação muito comum, na cultura grega da Antiguidade, entre génos e hamartía, termos que podem, de modo simplificado, ser traduzidos por família e erro, respectivamente: “[…] qualquer hamartía […] tem que ser religiosa e obrigatoriamente vingada. Se a hamartía é dentro do próprio génos, o parente mais próximo será igualmente obrigado a vingar o seu sanguine coniunctus. Afinal, no sangue derramado está uma parcela da vida, do sangue e, por conseguinte, da alma do génos inteiro” (BRANDÃO, 2002, p. 77). Curiosamente, recaíam sobre Hamlet a obrigação de vingar a morte do pai e, ao mesmo tempo, o castigo pelo ato de Claudius, dando início à tal cadeia de erros e purgações, denominada por Junito Brandão machina fatalis e entendida também como “transmissão da falta” ou “hereditariedade do castigo”: “A essa idéia do direito do génos está indissoluvelmente ligada a crença na maldição familiar, a saber: qualquer hamartía cometida por um membro do génos recai sobre o génos inteiro, isto é, sobre todos os parentes e seus descendentes ‘em sagrado’ ou ‘em profano’” (BRANDÃO, 2002, p. 77).
Não se esquecendo do fato de Claudius ambicionar o trono, o génos amplia-se, adquirindo, além de família, também o significado de reino, que padece pela ação de seus governantes. Com base nisso, justifica-se a frase que Almereyda usa para fechar Hamlet: vingança e tragédia: “As idéias são nossas, mas seus resultados não nos pertencem” (HAMLET, 2000). A ação de Claudius inclui Hamlet na machina fatalis e o personagem tem sua vida transformada, desde o momento em que, para aumentar suas desconfianças, o espectro do pai aparece para ele, ordenando a vingança, por isso o uso do imperativo na fala do pai ao filho. Hamlet não escolhe seu destino. Ao contrário, ele lhe é imposto: “Maldito fado/ ter eu de consertar o que é errado” (SHAKESPEARE, 1995, p. 59, I, v). Como Édipo, Hamlet também tenta lutar contra seu destino, recusando-se a matar Claudius, mesmo depois de saber de tudo, mas as coisas se precipitam e se avultam, com a morte da mãe e as palavras de Laerte, ao final da peça e do filme, provocando a catástrofe. Pelo sangue derramado por Claudius, cumpre-se a maldição familiar. Como se não bastassem os fatos de Hamlet ser responsável pela morte de Polônio e de pesar sobre ele a culpa pela morte de Ofélia, ele descobre o envenenamento da mãe, mata o tio e morre, com Laerte, depois de um duelo arquitetado pelo rei usurpador. O final, típico da tragédia, concretiza o discurso de Rosenkrantz sobre os efeitos da ação de um soberano, tão avassaladores que provocam não só a sua própria queda, mas a de todos que o cercam: “[…] a majestade/ Não sucumbe sozinha; mas arrasta/ Como um golfo o que a cerca; e como a roda/ Posta no cume da montanha altíssima/ A cujos raios mil menores coisas/ São presas e encaixadas; se ela cai,/ cada pequeno objeto, em conseqüência/ Segue a ruidosa ruína. O brado real/ faz reboar a voz universal” (SHAKESPEARE, 1995, p. 108, III, iii).
CONCLUSÃO
A partir dos ingredientes extremamente variados que Almereyda usa em sua adaptação cinematográfica de Hamlet, não só na execução do filme, mas nos temas que percorrem o texto original e que são preservados no filme, para que não se perca a essência shakespeariana, a exemplo do cruzamento do mito com a filosofia, chega-se ao conceito de Júlio Plaza, que entende tradução intersemiótica como renovação ou diálogo crítico. Dessa forma, sobretudo em se tratando da adaptação de um clássico, exige-se que o novo e o antigo estejam em sintonia constante. Por isso, em Hamlet: vingança e tragédia, se a linguagem ficou responsável pela permanência, a transformação, para a atualização ou revitalização da obra de Shakespeare, ficou a cargo de uma nova perspectiva espaço-temporal. O novo Hamlet, personagem do ano 2000, não vive na Dinamarca, mas em Nova Iorque. Porém, mantém-se a referência dinamarquesa, através de uma brincadeira que faz de Ethan Hawke, protagonista do filme, herdeiro da Denmark Corporation e do Hotel Elsinore. A própria mescla espacial, temporal e lingüística, que une o tradicional com o contemporâneo e que foi enaltecida pelo trânsito que permitiu a transformação de uma peça de teatro em filme, em um processo que favorece um tipo de mídia totalmente diferenciado, é encarada como característica da pós-modernidade:
O período da pós-modernidade […] caracteriza-se também por uma re-corrência à história, pela crítica do “novo” (opondo convenção à invenção), pela recuperação da categoria do público, isto é, por uma ênfase na recepção e, sobretudo, por uma imensa inflação babélica de linguagens, códigos e hibridização dos meios tecnológicos, que terminam por homogeneizar, pasteurizar e rasurar as diferenças: tempo de mistura. (PLAZA, 2003, p. 206)
Como um palimpsesto, a tradução intersemiótica realça o novo produto, mas abre clareiras para que, através delas, o espectador/leitor possa chegar ao texto original. Há, portanto, dois planos e é justamente essa duplicidade, que se faz presente em todo processo de adaptação, a responsável pelo destaque dado à recepção, já que o espectador do filme, para um melhor entendimento da obra, deve, também, ter lido o texto de Shakespeare, a fim de estabelecer o diálogo necessário. Mais ainda: o espectador/leitor deve interpretar as mudanças feitas, apreendendo a postura crítica que existe por trás de cada uma delas, o que o faz refletir, simultaneamente, sobre os valores tradicionais e os contemporâneos. Em suma, a adaptação desempenha a função de marcar o alcance imenso da obra original, ao mesmo tempo em que a revitaliza, mas não por simples opção do diretor e sim porque a própria obra permite essa atualização, dada a sua amplitude.
Ao mesmo tempo, a duplicidade serve para questionar e relativizar os conceitos de criação e de autoria, já que o novo se faz assumidamente sobre o antigo. Prática pós-moderna ou característica comum a todas as criações? Obviamente, a prática não é nova. É a profusão de debates que a pós-modernidade propicia sobre esse assunto, a partir de obras que se fazem a partir de recortes de jornal, discursos históricos ou trechos de obras clássicas, que permite a inserção dessa característica no conjunto de traços comuns a esse período artístico-literário: “[…] numa visão co-extensiva à formulada por Haroldo de Campos a respeito da Tradução Poética, concebemos a Tradução Intersemiótica como […] um outro nas diferenças, como síntese e re-escritura da história. Quer dizer: como pensamento em signos, como trânsito de sentidos, como transcriação de formas na historicidade” (PLAZA, 2003, p. 209). Relendo e recontextualizando o clássico, o diretor, que é, antes de tudo, um receptor, expressa uma nova visão da obra original em seu produto, um filme, nesse caso específico, o qual será recebido por milhares de espectadores, que também farão suas leituras, com alguma chance de essas resultarem em outras obras de arte, as quais ficarão conhecidas por outros milhares de espectadores, etc., etc. É nesse processo, de respostas que produzem reflexões e perguntas, que, por sua vez, pedem novas respostas, que são construídos a História e o processo infinito da crítica, sempre vinculada à criação ou à recriação.
REFERÊNCIAS BRANDÃO, J. de S. Mitologia grega. Vol. I. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
CAMPBELL, J. O herói de mil faces. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1997.
CLÜVER, C. Estudos interartes: conceitos, termos, objetivos. Literatura e sociedade 2: revista de teoria literária e literatura comparada. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1997.
COSTA, L. A. da. A permanência do Hamlet.Disponível em: http://www.iupe.org.br/ass/resenhas/res-040723-hamlet.htm. Acesso em: 02 set. 2007.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 2001.
HAMLET: vingança e tragédia. Direção de Michael Almereyda. EUA: Jason Blum, Andrew Fierberg, Callum Greene, Amy Hobby e John Sloss; Imagem Filmes, 2000. 1 dvd (112 min); son.; 12 mm.
HELIODORA, B. Reflexões Shakespearianas. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004.
PAVIS, P. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999.
PLAZA, J. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003.
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Tradução de Anna Amélia Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. SÜSSEKIND, F. Tal Brasil, qual romance? Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.
*Segunda parte do artigo intitulado “Um estudo sobre Hamlet: morte — causa e consequência”, publicado na revista Scripta Uniandrade, n. 7, 2009. A primeira parte do texto foi publicada recentemente, no blog Recorte lírico. Para acessá-la, basta seguir o link: https://recortelirico.com.br/2017/04/hamlet-quem-diria-ainda-vive-parte-1/.








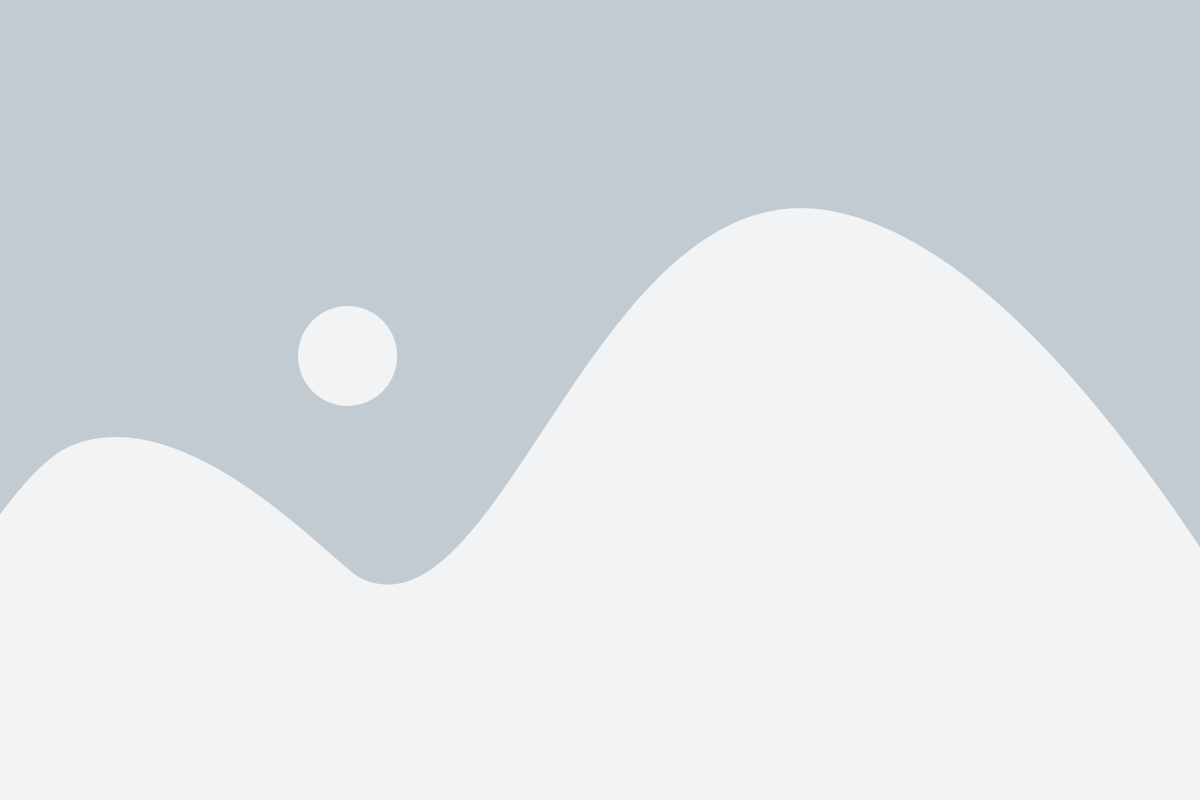

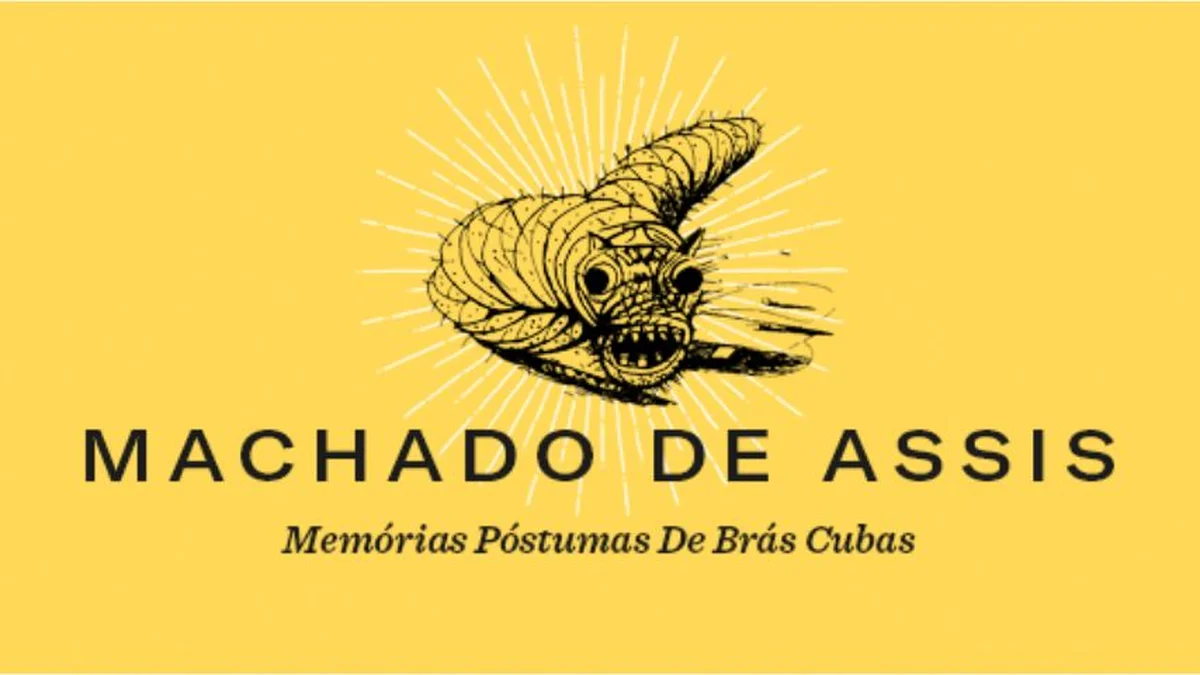

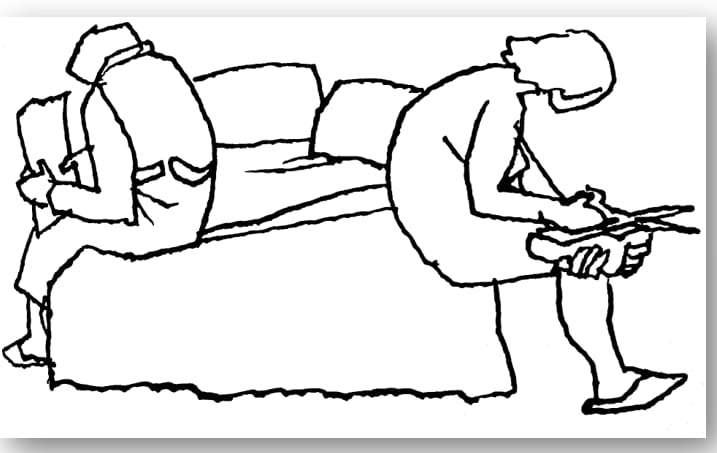

















[…] Leia também a parte 2: Hamlet (quem diria?) ainda vive… (Parte 2) […]