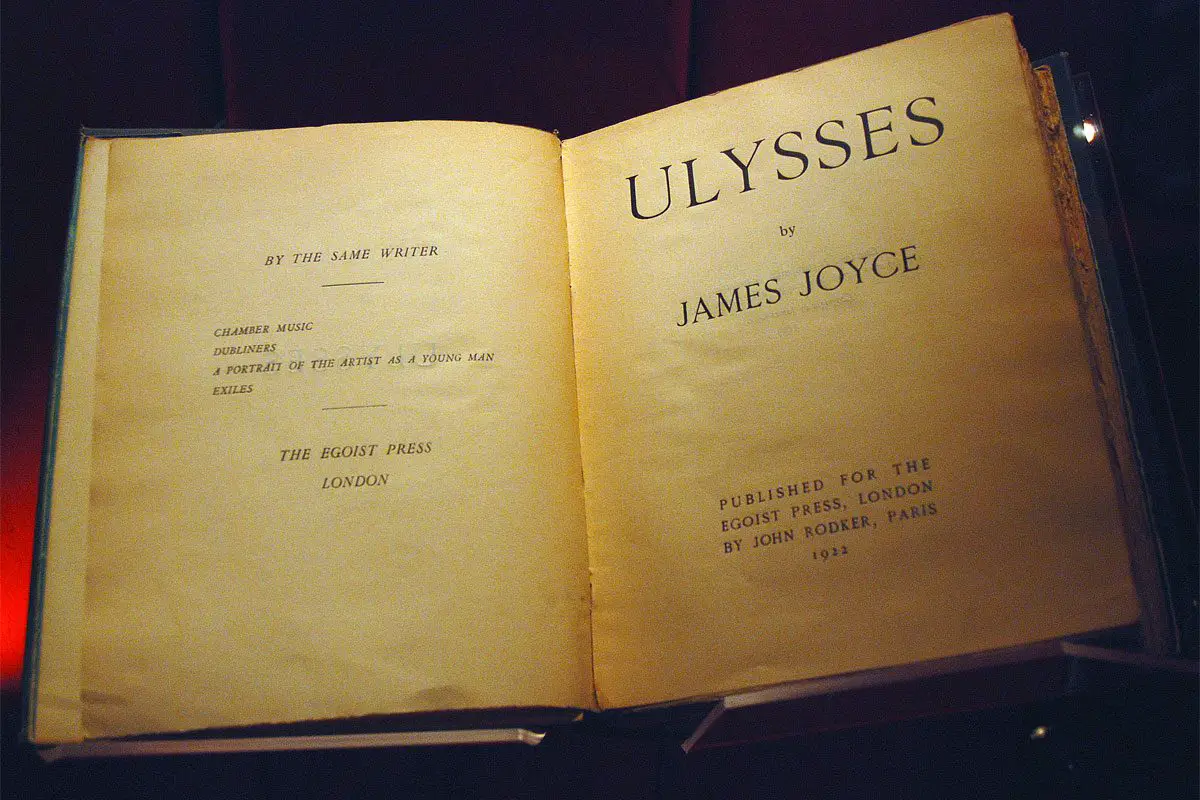Tolstói inicia um de seus romances mais dignos de nota, Annna Karienina, com a frase de que “Todas as famílias felizes são iguais.” Mas, até que ponto vai a felicidade? Não seria ela um disfarce ou ela – nem sequer – existe? Para a maioria dos literati, a felicidade é apenas um conceito, algo inserido no romance, como uma espécie de atenuação. Uma maneira de evitar chocar-se frontalmente com a realidade, é uma artimanha usada para efetivar o caráter ficcional da obra literária.
Em filosofia, é muito mais fácil encontrar a infelicidade. Os filósofos, após o início do século XIX, preocuparam-se muito mais com a tristeza do que com seu antônimo. Por quê? Ora, seria fácil afirmar que, no decorrer da Revolução Industrial e – mesmo – depois dela, o que havia era histeria e melancolia, especialmente na Europa. Um sentimento burguês amplamente disseminado e fossilizado na obra Madame Bovary, do Flaubert, entre outras, evidentemente.
Mas, este não é um sentimento novo: caminhando pelas ramagens escuras do Inferno dantesco é possível entristecer-se; com a desgraça e com a vileza e a crueldade da alma humana, que mereceria ser enviada aos mais recônditos e profundos sítios do inferno. Dante propõe uma visão mais mundana do que fantástica ao local, conferindo-lhe muitíssimas características humanas.
Os românticos, Poe e Espronceda, Byron e Baudelaire, Goethe e Álvares de Azevedo tinham em comum, nas suas poesias, a tristeza. Beberam dela e quando atingiam um âmago mínimo de felicidade, procuravam deleitar-se com a morte. Eles sabiam que lidar com a felicidade não é um ato humano. Uma óptica básica platônica mostrará que a felicidade é intangível pelos sujos dedos humanizados. Cabe ao humano a desgraça. Por isso, o Inferno na Commedia é muito mais lido do que o Paraíso.
A pintura contribui com a tristeza nas Crucificações em inúmeras interpretações desde a pintura da Cristandade Primitiva. Ela passa pela escuridão nos fundos de Caravaggio e de Rembrandt, nas figuras entediadas de Hopper, nas iluminuras medievais, nos cenários sabáticos de Bosch e culmina no colorido, paradoxal e sombrio O Grito, do Munch.
Na música, ouve-se a tristeza em todo lado. As últimas peças de Schubert, os quartetos finais de Beethoven e o Réquiem de Mozart já serviriam de exemplo. Mas, esquecem-se das óperas barrocas de Vivaldi e Purcell, da Paixão Segundo São Matheus, de Bach, dos Noturnos de Chopin até os modernos Blues onde se encontra a tristeza regional dos Estados Unidos ainda racial e extremamente segregado.
Vê-se que a arte é repleta de tristeza e – quando muito – tem por semente ela própria. Usa-se da melancolia, da depressão e da morte como substrato. Na literatura, como já dito, esse sentimento é fundamento no Ocidente (e no Oriente também: vide Kawabata e Mishima…). E, como já dito, a felicidade sempre é um aditivo que torna a arte mais palatar e menos parecida com a pura realidade (se é que a realidade, como concebemos, realmente exista…). No entanto, poucos são os escritores que conseguem exprimir um sentimento dual, simplesmente aglutinando que se poderia denominar felicidade-tristeza.
O escritor lusitano António Lobo Antunes comenta que, possivelmente, não existe felicidade sem tristeza; uma está arraigada à outra. E isto nunca foi tão verdade como nos contos de Katherine Mansfield.
A escritora neozelandesa, amiga de Virginia Woolf e do grupo Bloomsbury, trabalhou no gênero curto, em textos rápidos e cortantes, com olhos especialmente à sociedade inglesa, do país que era metrópole do seu. Mansfield propunha algumas análises do ser humano até então, nada convencionais, especialmente no gênero dominante do século XVIII e XIX, que era o romance. Mas, com o chegar dos anos 1900, o short story passará a ter maior importância, até porque ele imita o tempo e o tempo começa a passar “depressa” no início do século XX.
A morte do irmão lhe causa imensa impressão e vai, lentamente, culminando em uma depressão severa. Depressão esta que será filtrada em seus trabalhos em forma de uma estranha felicidade. Por incrível que pareça, dois contos merecem destaque: o primeiro, com o nome irônico e provocador: Felicidade (Bliss) e o segundo A Festa ao Ar Livre[1].
Felicidade aparenta ser um conto urbano, ambientado em Londres. Uma dona de casa espera recepcionar convidados em sua casa e promover um jantar alegre, de confraternização. A atmosfera de felicidade, inclusive, faz lembrar os preparativos de Mrs. Dalloway no romance homônimo, de Woolf. As coisas parecem andar em uma perfeita ordem e sincronia, ocupando o dia inteiro de Bertha.
O que fazer se, com trinta anos, ao virar a esquina de sua própria rua, você é repentinamente tomada por um sentimento de felicidade – felicidade aboluta! (…)
As pessoas, definitivamente, não estão acostumadas com a felicidade e – elas mesmas – acabam deturpando-a ou prejudicando-a, como a protagonista do conto. Um dos males de Bertha foi pôr demasiada expectativa no encontro. E crer, piamente, que possuía tudo. Essa riqueza burguesa era um verniz para esconder a pura realidade: Bertha era infeliz. E isso se constatou rapidamente quando os convivas foram embora.
Logo, logo essas pessoas vão embora. A casa vai ficar quieta – quieta. As luzes estarão apagadas.
E a solidão burguesa ocupará de novo espaço entre o casal. Quando a quietude e a escuridão dominam o ambiente burguês, logo se constata que não há nada além de riqueza, as frutas colorindo a fruteira e a pereira vistosa, sob a cor da noite e do luar. A maioria das festas proporcionam este sentimento. Os franceses dizem que, quando a festa está boa, é hora de ir embora. E com alguma razão. Não há momento mais solitário e deprimente do que fim de uma festa, em que os convivas lentamente esvaem da casa ou do espaço que pertence ao anfitrião. Assim se sentiu Bertha.
Mas, Mansfield não precisa definir isso em palavras ou termos, simplesmente pelas conversas pode-se constatar a solidão e a felicidade travestida. Ora, Bertha preparou-se o dia inteiro para aquele jantar e estava empolgadíssima. Porém a diminuição dos enunciados da personagem, sua constante insegurança e o cuidado em ‘manter’ os demais em seu recinto evidencia essa pseudo-felicidade.
Repara-se na autora a sua pura facilidade em construir uma alegria-triste. Em que, como disse Lobo Antunes, não existe felicidade sem tristeza, não há festa sem despedida. Mas, é também ilusão das pessoas crer que a felicidade seja eterna. O próprio verbo é temporário que designa este sentimento: estar. E Mansfield consegue levar esse verbo in extremis, até porque sua vida foi bastante deprimente, com a morte do irmão e da tuberculose que lhe assombrou. As doenças sempre constroem indivíduos específicos. O lúpus criou uma Flannery O’Connor que se divertia com a crueldade e desespero humano; a tuberculose, uma Mansfield capaz de formar personagens com personalidade dupla, bipolares. Bipolaridade vê-se no conto A Festa ao Ar Livre.
Tudo enche-se de brilho e animação para uma festa, que ocorreria logo após o almoço, em uma casa campestre. Todos estão montando coisas, arranjando flores, em perfeita sintonia um com o outro; novamente, estavam essas personagens inteiramente felizes, com destaque para Laura. Ela mal podia conter-se frente aos preparativos e sua mãe a designou como principal organizadora do evento.
Um homem mais pobre, de um região vizinha, caiu do seu cavalo e acabou morrendo. A notícia se espalhou e chegou à casa de Laura. Ela, instantaneamente, quis suspender a festa inteiramente em respeito à morte do indivíduo. Aqui, biparte-se uma questão moral do conto: continuar a festa com uma espécie de desrespeito ao defunto ou pará-la e desrespeitar os familiares e amigos dela? A felicidade recebe um intervalo.
– Oh, Laura – (…) – Se você fizer uma banda parar de tocar cada vez que alguém tiver um acidente, vai ter uma vida extenuante.
Jose argumenta com Laura. É impossível parar a vida pela morte do mundo inteiro. Mas, é perceptível que Mansfield deseja tocar outra coisa: a justa interrupção na felicidade de Laura. Evidenciar ao leitor que se trata de um estado e não de uma condição eterna. Mas, boa burguesa que é, decidiu deixar para depois:
Eu me lembrarei de novo quando a festa acabar – resolveu.
Já aproveitará que os fins de festa são sempre deprimentes e incluirá o pobre indivíduo morto da queda de um cavalo em suas lamentações. E, realmente, ao fim da festa, Laura decide ir levar uns quitutes para as crianças e para a viúva daquela família e, lá, ela vê o morto:
Estava longe de todas essas coisas. Estava belo, maravilhoso. Enquanto riam e a banda tocava, este prodígio chegara à viela. Feliz… Feliz… Tudo está bem, dizia aquele rosto adormecido. É exatamente como deveria ser. Estou contente.
Há duas coisas que se considerar nesses diálogos interno de Laura. A primeira é o remorso que ela certamente está sentindo e o segundo é que os únicos que experimentam a felicidade ou a indiferença frente a ela são os mortos.
Todo o barulho da banda, o vozerio, a felicidade daquela família sobrepôs-se à tristeza, luto e desespero de outra. Laura sentia e sabia disso, portanto sentiu remorso por aquilo e decidiu levar àquele povo alguma consolação, o que poderia ser interpretado como um erro, pois levou doces e quitutes de uma festa para enlutados. Até a comida era anacrônica.
Laura soluçou alto como uma criança.
– Perdoe o meu chapéu.
Até sua indumentária era imprópria para um caso daqueles. Porém, o centro das atenções não se importou minimamente… o próprio morto. Mansfield sugere que os mortos são indiferentes à felicidade ou à tristeza, prestam-se a um sentimento uniforme por toda eternidade ou mesmo a ausência de um sentimento.
Que lhe importavam festas ao ar livre, e cestas e vestidos de renda?
Absolutamente nada. Porque o sentimento dos mortos, em outra interpretação, poderia sugerir uma felicidade eterna, um estado nirvânico do qual os vivos jamais experimentariam, a não ser quando estivessem mortos.
Laura volta para casa e lhe perguntam o que passou. Ela está emocionada, depois de ter visto o morto e termina o conto com a frase vaga de que:
A vida não é…
O que Mansfield deseja do leitor com essa frase? Antes de mais nada, mostrar que a vida não pode caber num mero conceito, de que ela possa ser curta ou justa… ou meramente feliz. A autora mostra que há um anacronismo na relação indivíduo e felicidade. Parece que algo não constitui combinação. A felicidade, se é que existe, é momentânea ou parte de um êxtase da personagem e que logo é substituída por um feixe imenso de tristeza. A felicidade nos contos da Mansfield vai se desintegrando e mostrando o osso da realidade humana.
Tanto em Felicidade quanto em A Festa ao Ar Livre, observa-se uma estranha felicidade, uma alegria em organizar, em dar o início, esse sentimento é provocado nas protagonistas e chega ao cume quando algo as transpõe: a saída dos convivas e a morte de um vizinho mais pobre. Katherine não somente fala de felicidade e de tristeza, fala também dos imprevistos; em como pequenos fatos cotidianos (que não pertencem ao indivíduo, mas chegam ao seu conhecimento) podem afetar as personagens. Podem mudar o rumo do enredo em seus contos.
O que, todavia, provoca atenção no leitor é o fato de a autora não fazer o que seria previsto: mostrar a tristeza de Bertha à saída dos demais ou Laura cancelar a festa porque o outro morreu. Não. Porque justamente essas protagonistas insistem nesse sentimento artificial, desumano, chamado felicidade. Sorvem-no o quanto podem e – no fim – são indiferentes à vida e possuem um tom extremamente egoísta. Mas, não seria essa a estranha felicidade nos contos de Mansfield: um exacerbado e desumano egoísmo?
[1] MANSFIELD, Katherine. As filhas dos coronel e outras histórias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. 125 p.