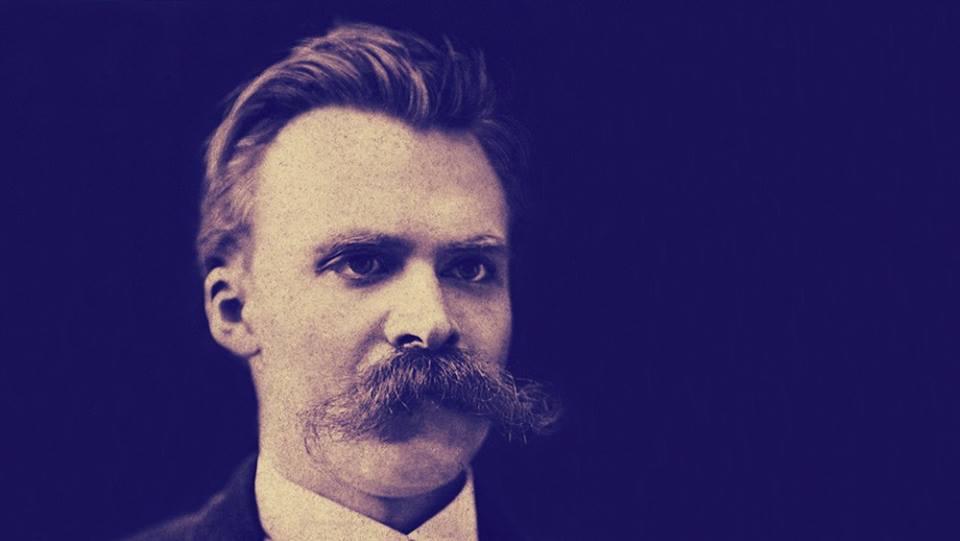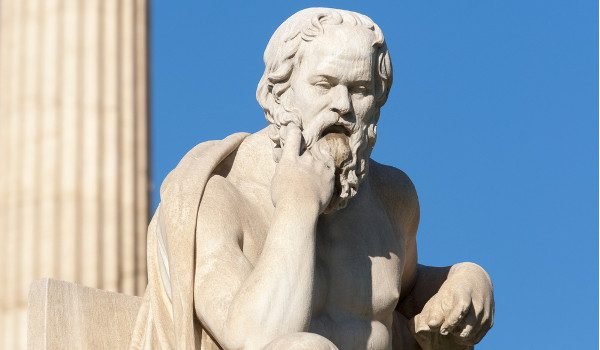Nietzsche
A luz do sol do meio-dia
“Oh! Quanto já nos custaram esses brasileiros”.
Friedrich Nietzsche
Enquanto contemplava a enorme bola de fogo que se aproximava para destruir toda a vida no planeta, o “Bigode” lembrava uma tarde do distante ano de 1871. Uma tarde fria que mudara o seu destino e o destino de toda a humanidade. E sorria, olhando a figura de Apolo que rasgava o céu e punha fim ao ciclo do conhecimento no nosso pequeno astro. Os atos tornaram-se definitivos. É isso o que ele pensava, do alto do Morro do Cavalão, em Niterói.
O jovem professor estava confuso. Jamais vira uma mulher assim em toda a sua vida. Uma mulher com outros gestos. (Não que dispusesse de muitos critérios para avaliar. Na pequena cidade da Basileia, só conhecia professores ou mulheres de professores. E professores não são exóticos e nem belos – também não ganham muito, o que explicava a questão das mulheres. Com a publicação do seu primeiro livro, começou a “correr” um pouco mais os círculos da intelectualidade, mas a sua grande guerra o impedira de continuar a aproveitar os ventos da “popularidade” – se é possível usar essa palavra para um livro cujo tema é a tragédia grega, escrito por um jovem professor de filologia, matéria das mais desinteressantes).
Talvez fosse a convalescença. Talvez fosse a guerra e o horror visto. O fato é, que, contra a sua índole, contra todo o seu comportamento anterior, resolveu seguir a mulher até à cabine desta. Ela lhe lançou um último olhar e entrou. Quando abriu a porta, surpreso, viu a cabine cheia de gente. Tomado pela raiva e pelo susto, fez menção de sair. Um senhor barbudo e bonachão, com um leve sorriso zombeteiro no canto dos lábios, pediu para que ficasse, que tomasse um chá, “que era normal que acontecessem essas coisas, nós austríacos sabemos que essas cabines são todas iguais”.
O constrangimento passou. Permaneceu a tarde toda conversando com o senhor barbudo; este, muito educado, sem aquela “educação forçada”, característica dos austríacos. O senhor barbudo gostava de ouvir. Voltou à cabine mais algumas vezes, antes de terminada a viagem. Ficou surpreso e maravilhado ao descobrir, no fim da viagem, que dividira o seu tempo com o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Não se lembrava mais da mulher da cabine. Talvez tivesse confundido os números.
Prometeram corresponder-se. Cumpriram a promessa. Ao final do ano, cansado das polêmicas vazias sobre a sua visão “excessivamente inovadora” dos gregos (polêmicas com gente que não tinha a menor ideia do que significavam as palavras que haviam decorado na época das calças curtas!), viajou para o Brasil, terra tão exótica e tão distante. O sol da Itália ficaria para depois.
No Brasil, foi ficando. Afinal, acabara a briga entre a sua cabeça e o seu corpo e português não era tão difícil. O imperador lhe garantiu um cargo público. Acompanhava, com curiosidade (e algum enfado), as polêmicas vazias entre os “liberais” e os “conservadores”. Achava engraçado como alguns falavam francês melhor do que os franceses (e a risível fascinação com a França dessa gente que jamais tinha visto um francês e nem sentido o seu cheiro). O “teatro” e o cenário vivo deixavam-no encantado. Sofria vendo a escravidão nas ruas, gente tratada como animais. Escrevia sobre fortes e fracos e sobre dominação e força, mas o que via, ia além dos livros, do que se podia colocar no papel. Lamentou profundamente a Proclamação da República (a única coisa que o tirava do sério é quando o chamavam de “seu Floriano”, por causa dos bigodes semelhantes ao do déspota). Na mesma época, teve que suportar a vergonha de ter a irmã metida em uma aventura eugênica no Paraguai. Nem do outro lado do mundo se escapa das origens. Sabia que o Brasil cometia um grave erro, colocando-se sob a égide de militares vulgares e sem cultura. Apesar de sofrer alguma perseguição, resolveu não seguir com a comitiva do amigo Dom Pedro e permaneceu no Brasil. Em Niterói, lugar para onde havia se mudado, já era então o “Bigode” (não conseguiam pronunciar o seu nome, pois tinha consoantes demais). Trocara o piano e o cavalo pela rabeca e pelo jumento. Ali, tinha mais tempo para escrever. Se tivesse voltado para a Europa e ficado na Alemanha, teria que voltar a ser professor.
O tempo passou. De vez em quando, conversava com um jovem poeta dentuço, de Pernambuco, que quase falava bem o alemão e que tinha ido, por acaso, visitar uma tia em Niterói. Conversava sobre a natureza do tempo e sobre a personagem Zaratustra, mistura de sacerdote, xamã e possesso. Queria saber sobre as coisas do centro da floresta no centro do mundo (achava que Pernambuco ficava perto da Amazônia). Começou a acreditar que toda essa claridade tropical começava a lhe fazer mal. Voltaram os gregos, mas cheio de penas. Escrevia uma mistura de português e alemão. Voltara a se lembrar da mulher no trem. Ariadne, o seu nome. E ele, Dionísio. Escreveu cartas para os velhos conhecidos da Alemanha (os Gasts, Burckhardts). Ninguém mais se lembrava dele. Nas cartas, as quais assinava Dionísio, escrevia repetidamente a fórmula do que ele denominava “eterno retorno” (e que era incompreensível para aqueles que ainda se interessavam em tentar conversar um pouco com essa figura exótica de uma província republicana):
Eterno retorno O Si-mesmo (o eu criado, o eu que (se) (re)cria) é tomado pela ninfa Instante (Ariadne) Repetidamente, e sempre e de novo. Pelo tempo ((Possessão))
Na alta noite do dia 18 para o dia 19 de maio de 1910, o cometa Halley iluminou a noite do hemisfério sul, como se fosse um dia de verão. Dizem que a sua cauda trazia cianogênio, gás letal que acabaria com toda a humanidade (falaríamos da força de bombas atômicas, se já fosse o tempo). Não sabemos se isso é verdade. O que sabemos é que nenhum de nós jamais retornou e que o dia (ou a noite) jamais voltou a ser tão claro.
LEIA TAMBÉM: O lado negro de Machado de Assis revisitado por Sérgio Bianchi