Escrito por Carlos Heinig
É relativamente fácil ser triste na literatura. Os fins trágicos, inclusive, exaltam uma obra literária desde o período Romântico. Morte em Veneza, Lolita, Anna Karienina, Pedro Páramo, Werther, isso apenas para ilustrar um exemplo de cada língua ocidental em que se escreveu romances. Mesmo o Brasil, com uma literatura mais tardia nos encanta com a tristeza de Grande Sertão: Veredas.
Todas essas obras são extremamente heterogêneas em enredos e conteúdos. São de estéticas e estilos complexos e disformes uma em relação à outra; no entanto, todos mantêm o ponto comum: a amargura, a tristeza no final. São obras para o leitor ‘culto’, aquele que não quer finais felizes, que almeja mais do que um conto de fadas.

Esse leitor deseja um ‘não-conto de fadas’. Por maturidade excessiva ou por falta de lirismo na prosa (embora isto seja absurdamente relativo, pois Grande Sertão: Veredas é uma obra de feição lírica da primeira palavra ao final.), o leitor observa se há algum traço de felicidade e rapidamente franze o nariz: ‘Isto não é literatura!’ e passa à outra seção, mais melancólica, do buquineiro.
Especialmente entre os escritores do pós-guerras, foi fácil escrever livros tristes. Aliás, a tristeza era um pomo de ouro para as produções entre 1914 e 1945, que se estendeu até à década de 50, no mínimo. Desde as próprias atrocidades de guerra, os campos de trabalhos forçados, a fome, a crise e a miséria deram detalhes para Sartre, Gide, Aragon, Célan, Mann, Hesse, Cela, etc. arranharem as folhas de papel. Saíram obras-primas cuja estética influencia autores e críticos até à atualidade.
Até mesmo aqueles que ‘ignoraram’ as guerras, como James Joyce, sofreram influências indiretas ou, num termo mais ‘humano’, efeitos-colaterais de conflitos que marcaram a estética artística. Sem contar os que associaram a paranoia de guerra com a recém-estudada psicanálise e criaram trabalhos de gosto duvidoso para muitos críticos, os famosos vanguardistas: Lamartine, Breton, Tzara e Marinetti.
As estéticas entrecruzavam-se em vórtices empírico-metafísicos, em que o inconsciente era um excelente aliado e – como, segundo Carpeaux (2012), ele desconhece moral, mais uma vez o mal e a tristeza estão presentes (embora Nietzsche fosse discordar de forma violenta desta afirmação…).
No período que sucede a década de 50, a Guerra Fria polariza o mundo e a Literatura também. Escritores brigam, competem por prêmios de cada lado do mundo. Recebem prêmios do ‘outro lado’, para provocar o status quo de seu país (vide Jorge Amado) ou, simplesmente, o recusam (vide Jean-Paul Sartre). Sabe-se pouco sobre a ala soviética. Apenas que proibiu Pasternak de receber o Nobel e que Soljenítsin lança O Arquipélago Gulag de forma irregular, sincopada, e a tremer-se de medo, pois ali mostra as feridas abertas da ‘União Soviética’. Todo, novamente, no leitomotiv da tristeza e da dor. Tudo num não-conto de fadas.
Mas, alguém que escreveu algo diferente foi Herta Müller. Ela não queria seguir o padrão do não-conto de fadas, mas sim do anti-conto de fadas. Em que a estrutura do texto estava lá, pequenas alegrias estão lá, embora o fundo seja de uma tristeza profunda e até mais cruel do que vigia à época e às vanguardas.

Müller nasceu na Romênia, em 1953. Em um pequeno e discriminado povoado que falava alemão e não romeno, sob a sombria ditadura do Ceausescu. A fome, a pobreza, o alcoolismo e a miséria são temas recorrentes nos contos que se interconectam de Depressões. A diferença é que o livro é narrado por uma menina inocente e que não ‘se importa com os sofrimentos dos adultos’, então começa o anti-conto de fadas:
As crianças ouvem o conto de fadas e sentem suas faces aveludadas e lisas. (p. 32)
Ou ainda:
Todos os dias, nós, crianças, damos à luz bebês de sabugo de milho no galinheiro, bonecas bebês no poleiro. Seus vestidos tremulam quando o vento entra pelas tábuas. (p. 18)

O lirismo de Müller não pode ser chamado nada menos que poético. Quase idílico, em que a natureza está em todo canto.
As flores lilases ao lado das cercas, o capim enrolado com suas sementes entre os dentes de leite das crianças. […] A longa fileira de vinhas silvestres, as uvas escuras amadurecem com o sol sob sua pele muito fina. Faço bolos de areia, trituro telhas até virar páprica vermelha, arranho minha pele nas articulações das mãos. (p. 17-18)
As borboletas, as flores, o cheiro da comida de casa, a fumaça das chaminés lembras os poemas iniciais de Hesse ou os eternos versos de Kopland. A simplicidade rememora Szymborska. Mas, é Müller quem escreve. Ela tem os traços dos outros, mas tem a própria veia lírica. Busca nos mais pobres, no mais dolorido alguma consolação. Seus contos têm todas as características de um conto de fadas de Perrault ou Hoffmann, mas o fim é o contrário. Por isso, é preciso chamá-los de anti-conto de fadas. Tudo pode tomar um ar gótico, rapidamente:
Essas camas, vovó dizia, eram caixões, e os que estavam neles, ela dizia, estavam mortos. (p. 26) E ela continua na página seguinte: Eu não compreendia por que a morte sempre ficava atrás das paredes das casas e a gente nunca podia vê-la, mesmo que tivesse morado a vida toda ao lado dela (p. 27).
Müller inicia o parágrafo falando das belezas de uma borboleta branca e logo – em seguida – lhe espeta um alfinete no ventre, esperando sua agonia acabar, até que as asas parem de bater. Da colorida colheita de cerejas e do desentendimento com o pai, que logo a espancaria, quando chegassem em casa. A crueldade e a consolação são paralelas a todo momento na obra. É preciso que o leitor entenda esse movimento ondulatório.
Pois, ele acontece até mesmo nos contos de fada tradicionais. É preciso haver algo de mau para o herói combater. Mas, o mal nos contos de fadas – em geral – provém do sobrenatural ou de seres antropozoomórficos como lobos, serpentes, raposas, etc. Müller, todavia, usa o próprio ser humano como face do mal ou, em casos extremos, a face obscura do governo sob o qual as personagens (a própria autora) viveram e suportaram.
Herta fugiu para a Alemanha Ocidental em 1987, temendo pela própria vida. Ou, na metáfora que ela põe em um conto: E dizemos que o último defunto vigia o cemitério até a próxima pessoa morrer. A Morte, em pessoa, está presente a todo instante na obra de Müller. É quase uma ‘realidade’, a própria menina-narradora tem medo dela:
Onde a pele dos meus joelhos tinha se esfolado, a carne ardia e tive medo de não estar mais viva de tanta dor, e ao mesmo tempo sabia que estava viva, porque ainda estava doendo. Tive medo que a morte entrasse em mim pelos joelhos abertos, e rapidamente coloquei as palmas das mãos sobre os ferimentos. (p. 25)

Porque a morte era uma realidade, assim como a tortura e a prisão, na ala soviética. As ameaças eram constantes. Schostakovitch foi um dos sofredores de ameaças, assim como o próprio Pasternak. Na Romênia, Herta bem sabia o que era isso. Nas entrelinhas, lê-se/ouve-se o silêncio, o calar-se para não se comprometer. Falar qualquer coisa contra o governo era motivo de prisão e tortura. Uma espécie de ‘democracia’ estranha.
Mais tarde, quando eu cheguei à cidade, vi a morte acontecendo na rua, antes mesmo de ela se consumir. Pessoas caíam no asfalto, gemiam, estremeciam e não pertenciam a ninguém. (p. 27)
Eram do Estado. Seriam enterradas como bens do Estado. Mas, isto ela evidenciará em outra obra, vertida ao português com o título de O Compromisso. O que nos cabe a este ensaio é verificar os elementos narrativos semelhantes e as alusões aos contos de fadas.
Antes disso, porém, é digno de nota uma passagem do livro em que é véspera de todos os santos (Halloween) e as crianças saem a brincar:
A aldeia se arrasta sobre as grande abóboras verruguentas, que estão esquecidas no campo, até o vale. Quando escurece, as crianças carregam suas horripilantes lanternas de abóbora embriagadas pela aldeia. O miolo das abóboras é retirado. Na casca são recortados dois olhos, um nariz triangular e uma boca. Dentro da abóbora coloca-se uma vela. A chama ilumina através dos buracos dos olhos do nariz e da boca. (p. 35)
A abóbora, além do teor folclórico local, também pode se universalizar um tanto mais quando se aproxima à abóbora carruagem da Cinderela. Mas, aqui, tudo é um pouco mais sombrio:
O médico chega muito tarde. Meu pai vomitou seu fígado. Ele fede lá no balde como terra podre. Minha mãe está diante dele com os olhos arregalado e abana o rosto dele com um enorme pano de prato e chora. Na cabeça oca de meu pai a vela queimou alucinadamente até o fim. (p. 35-36)
Eis a morte. Em alguém que quase já não era mais humano. Que, de tanto beber, perdeu a dignidade e a cabeça foi se esvaziando de miolos como uma abóbora de Shamain. Agora, vamos às alusões aos contos de fadas!
Os patos gingam o verão todo enfranjados pela grama […]. E quando chega o outono eles são abatidos […] Vovó pisa com o chinelo sobre as asas. Então a cabeça é segurada para trás e a faca é enfiada na veia mais grossa e o corte se estende mais e fica maior. O sangue esguicha e pinga e corre então na vasilha branca. Está quente e o ar torna-se negro e ameaçador. (p. 37)
O Patinho Feio, de Andersen, aqui, tem um fim sanguinolento. Ao invés de ‘virar’ cisne, torna-se uma refeição completa para simples camponeses da Suábia. Amanhã é domingo e, na hora do almoço, tenho um coração e uma asa no prato. (p. 38) Tudo é aceitável ou permissível, ao menos, na hora do desespero e da fome.
Outra figura dos contos de fada que aparece é a bruxa:
Mamãe sai com sua vassoura gasta na rua. E, quando ela começa a varrer, uma cobra sobe no cabo da vassoura. Ela joga a vassoura e sai correndo pela rua, pedindo ajuda. […] E então, um dia, vovó trouxe novamente as cobras. (p. 39)
A cobra pode ser a do jardim do Éden. Sempre é uma alegoria para o demônio ou para algo maligno. A mãe da narradora é a princesa indefesa. E a vovó, uma anti-vovó na verdade. Uma bruxa. Mas, havia outras.
Os cabelos da mulher continuaram grisalhos e as pessoas da aldeia tinham finalmente a prova de que ela era uma feiticeira. […] ela dançava sozinha com a vassoura. […] À noite, saía fumaça do junco. A bruxa acendeu velas novamente.
Entre outras inúmeras referências a este ser sobrenatural (que era completamente humano, se bem observado, ou melhor, visto pelos olhos da narradora. Ela era uma camponesa como as outras.) Os espantalhos também não são muito amigáveis como os do romance de Frank Baum.
Acima das tiras, o céu estava negro de espantalhos. Todas as hortas estavam cheias deles. As mulheres enchiam de palha os ternos dos maridos e os espetavam em postes altos. Colocavam neles chapéus e estes balançavam ao vento, eles não tinham cabeças nem rostos. (p. 42)
Como seres humanos empalhados. Com a barriga vazia, cheia de fome. Ela mesmo o diz: A fome pairava. Ela crescia na floresta e evitava a aldeia, que parecia uma ilha negra. (p. 42) Eles não tinham direito a um rosto, a uma identidade. Isso vale para os espantalhos e para os camponeses.
Mais um conto de fadas tem sua imagem enantiomorfa:
A feiticeira racha sua lenha novamente no cômodo. Sua chaminé exala um cheiro de maçãs queimadas. (p. 42)
A maçã envenenada da bruxa má dos Grimm é substituída por um par de maçãs queimadas na pobreza de uma cabana no meio de uma floresta. A bruxa também é pobre e suas maçãs não são mágicas, são bem reais: estão carbonizadas. E não há nenhuma donzela perdida por lá. Somente os símbolos profanados e latentes.
Um sapo saltou sobre a calçada. Ele tinha uma pele flácida e grande demais, que fazia rugas por toda parte. Ele saltou nos morangos. Sua pele era tão sinistramente enrugada que nenhuma folha sussurrava. (p. 66)
Mais uma vez os irmãos Grimm são contrariados. O sapo continua sapo, mas mexe com a metafísica dos morangos. Deixa os morangos, quem sabe, mais morangos (e menos sapos) num discurso quase de loucura. Não há princesa para beijá-lo e nem mesmo mágica tão poderosa que o torne um príncipe. Para isso, é preciso sonhar. E o povo da Suábia não tinha esse direito. Não naquele tempo pelo menos.
Meu coração bate de alegria. Eu espero pela noite. Há também medo na alegria. (p. 76-77) Ser alegre? Somente à noite, às escondidas, por baixo das cobertas. Era proibido chorar. Já nos primeiros contos, a narradora comenta os bofetões que leva da mãe quando é surpreendida chorando. Não se podia chorar sem motivo ali.
Se ela chorasse, a vovó-bruxa apareceria: Vovó quer me enfeitiçar. […] O sono é o sono da vovó, o veneno de vovó. O sono é morte. (p. 91) Um pouco antes ainda: Os gerânios da vovó eram tão inexpressivos como flores de papel e não havia nada mais bonito para a vovó que gerânios em caldeirões. […] E todas as vigas da casa estavam cheias de caldeirões pendurados.” (p. 83)
A anti-vovó, dos anti-contos de fadas de Müller, mostra uma ferida aberta em meio à Suábia. Em que o desespero é normal. Sempre havia apenas homens mortos na guerra. Eu vi uma porção de mulheres com os vestidos fora do lugar e pernas esfoladas no campo de batalha. Vi mamãe nua e congelada deitada na Rússia com pernas esfoladas e com lábios verdes de comer nabos. (p. 95) Mas, o lirismo resiste.

A poesia resiste e surge “Depressões”. As terras baixas ou a alma em baixa, a tradução é indiferente. O quintal era tão vazio que parecia uma grande depressão (p. 72). É uma obra de vazios, de contrários, de coisas enantiomorfas. Em um lugar em que A chuva também é de vidro (p. 49). Tudo é dilacerante, cortante. E só mesmo uma menina narradora para contrastar tudo isso, tornar tudo isso tragável. Tornar o remédio menos amargo.
Herta Müller é uma poetisa que não se cala. Prefere cantar numa alegria-triste, cheia de lirismo o desespero de seu povo, como nos versos agridoces de Cecília Meireles em A Doce Canção: Pus-me a cantar minha pena / com uma palavra tão doce / de maneira tão serena/ que até Deus pensou que fosse / felicidade e não pena.
REFERÊNCIA:
MÜLLER, Herta. Depressões. São Paulo: Globo, 2010. 161 p.






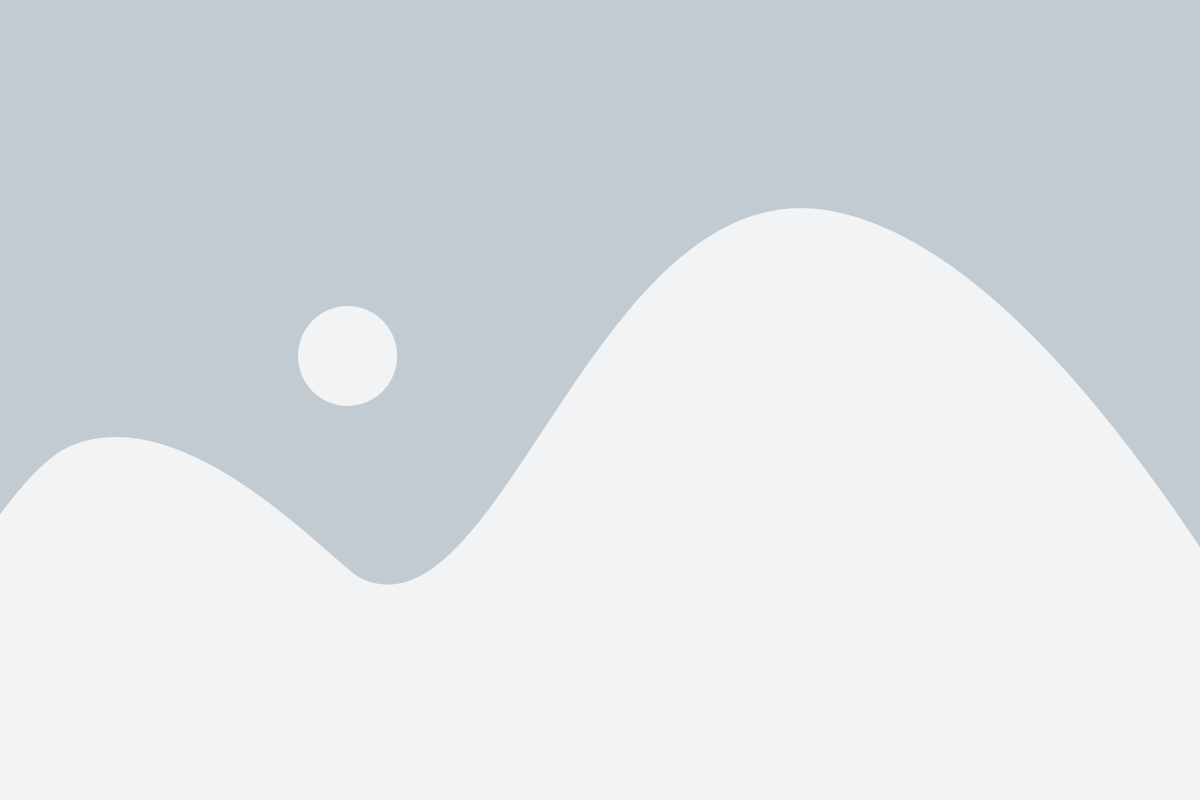




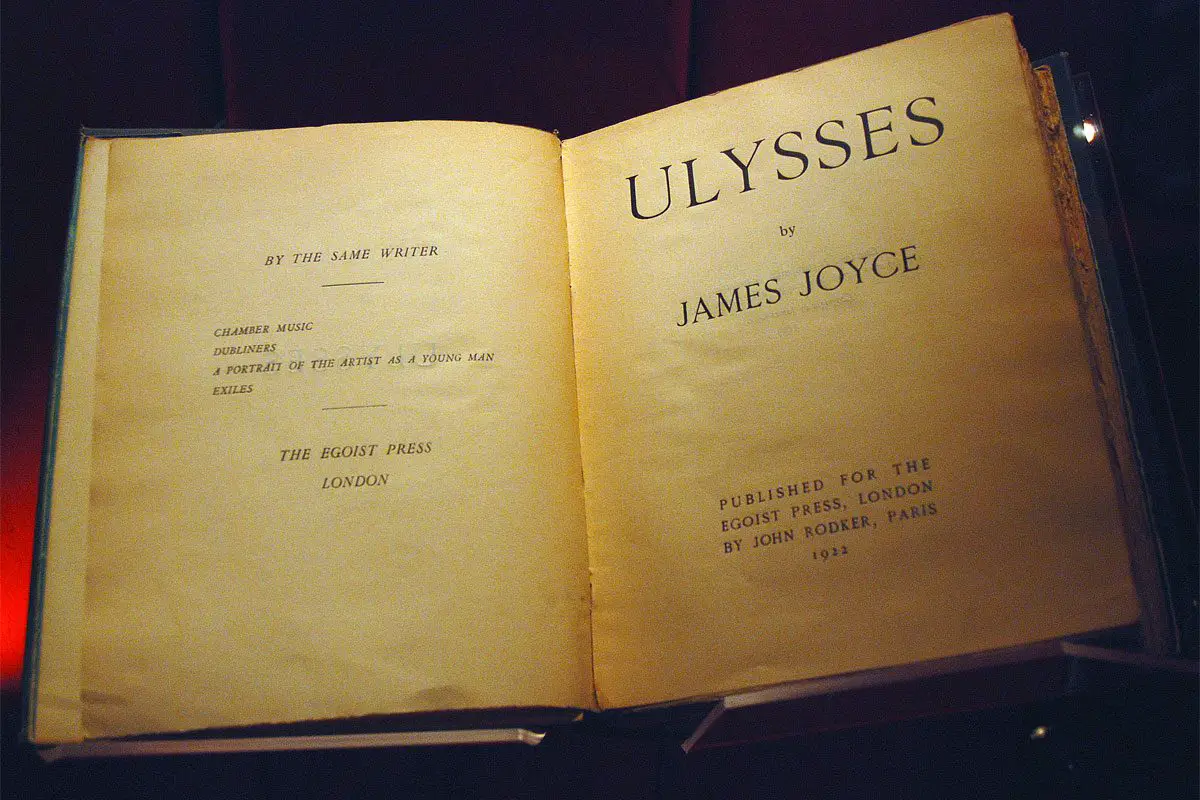

Parabéns ao Heinig pelo texto. Mesmo não sendo “alvíssaras”, o texto nos convida a lê-lo — no meu caso, não leria a Herta, mas, certamente, há quem correrá para buscar o livro por conta de resenha tão inteligente. Se para você, o dicionário também é ferramenta decisiva, vá lá: “Enantiomorfa consiste na simetria de dois objetos que não podem se sobrepôr. Ex.: um objeto diante do espelho”.
Abraço fraterno,
Beto.